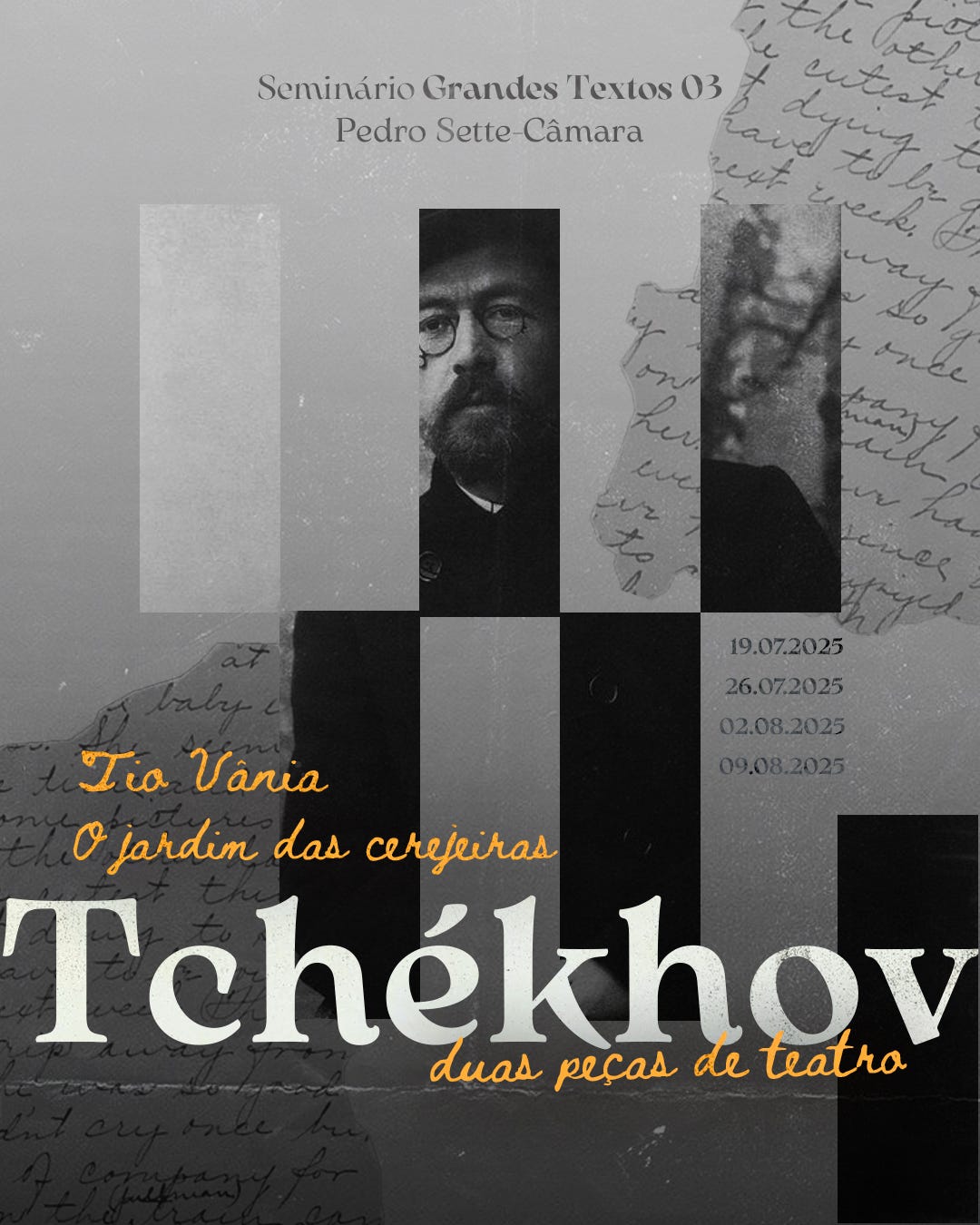143 «A misericórdia que vai tomar o mundo inteiro»
Duas peças de Tchékhov no Seminário Grandes Textos 03
Como sempre, abaixo das informações, o leitor encontra um texto que vale por si.
Informações
Grandes Textos da vez: as peças Tio Vânia e O jardim das cerejeiras, de Tchékhov. Existem versões das peças em vídeo (que disponibilizarei aos inscritos, além dos vídeos do YouTube, mas vou me referir aos textos da bela tradução de Rubens Figueiredo, que está com um belo desconto na Amazon. Cada peça tem quatro atos. Leremos dois atos por semana. Para a semana que vem, basta ler as primeiras 32 páginas de Tio Vânia — ou seja, basta ler diálogos.
Quatro encontros: aos sábados, 19 e 26 de julho, e 02 e 09 de agosto de 2025, das 16h às 18h, pelo Google Meet (as reuniões são gravadas e compartilhadas com os participantes pelo Google Drive).
Preço por PIX: R$ 155, enviados para ps@pedrosette.com, R$ 135 para assinantes pagantes da newsletter. Por favor, envie o comprovante por email.
Preço por cartão: R$ 175 com pagamento pela Stripe. O assinante pagante da newsletter encontra um cupom de desconto de 14% ao fim da mensagem. Por favor, envie o comprovante por email.
E se você quiser também o outro seminário que será anunciado na próxima newsletter? Logo anunciarei o Seminário de Teoria Mimética de julho de 2025, sobre a conversão (o que é muito adequado, considerando que acabamos de fazer dois seminários sobre o pecado). Pelos dois seminários, você pode enviar um PIX de R$ 250 para ps@pedrosette.com. Se quiser pagar por cartão, o preço é de R$ 290, neste link. O assinante pagante encontra um desconto de 15% ao fim da mensagem. Nos dois casos, por favor envie o comprovante por email.
A acídia de russos e de brasileiros
A acídia, que no sentido estrito dado por São Tomás de Aquino é a tristeza de quem acha que não obterá a salvação, encontra seu análogo na «tristeza segundo o mundo» mencionada por Paulo (2 Cor 7, 10). Nesse sentido, a acídia é o grande mal do nosso tempo: a frustração de quem não acredita que um dia seus sonhos — de riqueza, de fama, de fazer algo grandioso — vão se realizar. É a tristeza de quem julga ter uma vocação frustrada, um potencial que nunca será realizado, a estagnação que pode manifestar-se tanto na inatividade depressiva de quem passa o dia rolando o feed quanto na atividade frenética de quem se dispersa e se considera contra tudo e contra todos.
(Uma tristeza que clama por misericórdia, como veremos.)
Os países menos desenvolvidos, como o Brasil, são lugares de acídia. Agora, como brasileiro, posso ter vivido isso, mas aprendi a falar disso descobrindo nossos parentes distantes na terra e íntimos no espírito: os russos do século XIX. Herzen, Turguêniev, Dostoiévski, Tchékhov: esses foram meus professores da acídia, e tenho certeza de que aprenderia mais ainda com outros se os tivesse lido.
Sempre que vejo aqueles donos de terras russos, donos de latifúndios num país no raio que o parta do século XIX, tendo como vizinhos distantes e modelos adorados países mais modernos, onde ocorrem revoluções, experimentos políticos, discussões intensas sobre os direitos da mulher, países que praticaram a escravidão no exterior mas não dentro de casa (os russos até 1861 tiveram a servidão, e os servos por vezes podiam ser tão maltratados quanto os escravos nas Américas), penso nos brasileiros que conheci até os anos 2000, principalmente da classe média para cima. Gente que via no Brasil antes de tudo um lugar estagnado e retrógrado, para o qual era preciso importar o mais rápido possível o progresso. (E quantas pessoas discordariam, ainda hoje?) Um desses brasileiros que conheci tornou-se até mesmo ministro da Economia, outros envolveram-se em partidos políticos. Todos me lembrando aqueles aristocratas russos.
Eu mesmo sou um desses aristocratas russos perdidos no Brasil, com o corpo na terra natal e a cabeça em outros continentes. Na Rússia, eles falavam francês entre si, pensavam em francês, chamavam-se por nomes franceses — quem nunca sofreu ao ler um romance russo em que um personagem tem seu nome próprio, o diminutivo, e a versão francesa do nome? Em Demônios, o perverso Piotr Verkhovenski, meu xará, é chamado de «Pierre» pelo próprio pai… A única diferença é que, ainda que eu fale francês por uma invencível paixão francófila, a segunda língua oficial da minha vida, e a grande língua de cultura, é inevitavelmente o inglês. E sim, eu penso em inglês; sim, como num romance russo, numa peça russa, eu intercalo frases inteiras em inglês com o português.
Voltando à acídia, da qual na verdade nunca saímos, a onipresença de uma língua estrangeira na minha fala cotidiana é um sinal dessa tentativa de comunicação com um modelo distante. Hoje o inglês está por toda parte, a situação mudou com a chegada dos smartphones e do streaming, mas essa fragmentação hoje democratizada era o infeliz privilégio de uma classe que, no Brasil (e em todos os países menos desenvolvidos), e pelo menos também desde o século XIX, tinha não apenas meios econômicos suficientes, mas também tempo e interesse por cultura, por ideias.
Evaldo Cabral de Mello, no prefácio que escreveu para a edição da Topbooks de Minha formação, de Joaquim Nabuco, deu a essa fragmentação o nome de «dilema do mazombo». «Mazombo» era o filho de europeus nascido no Brasil, mas mazombos também eram aqueles russos que iam estudar na Alemanha e voltavam para casa perguntando-se quando o Espírito de Hegel baixaria em suas terras tão caipiras. Mazombos éramos nós, querendo saber quando o Brasil teria um índice de liberdade econômica mais próximo do índice da Nova Zelândia, quando as salas da graduação em Letras da UFRJ teriam ar-condicionado, quando teríamos um padrão de consumo comparável ao padrão dos países desenvolvidos.
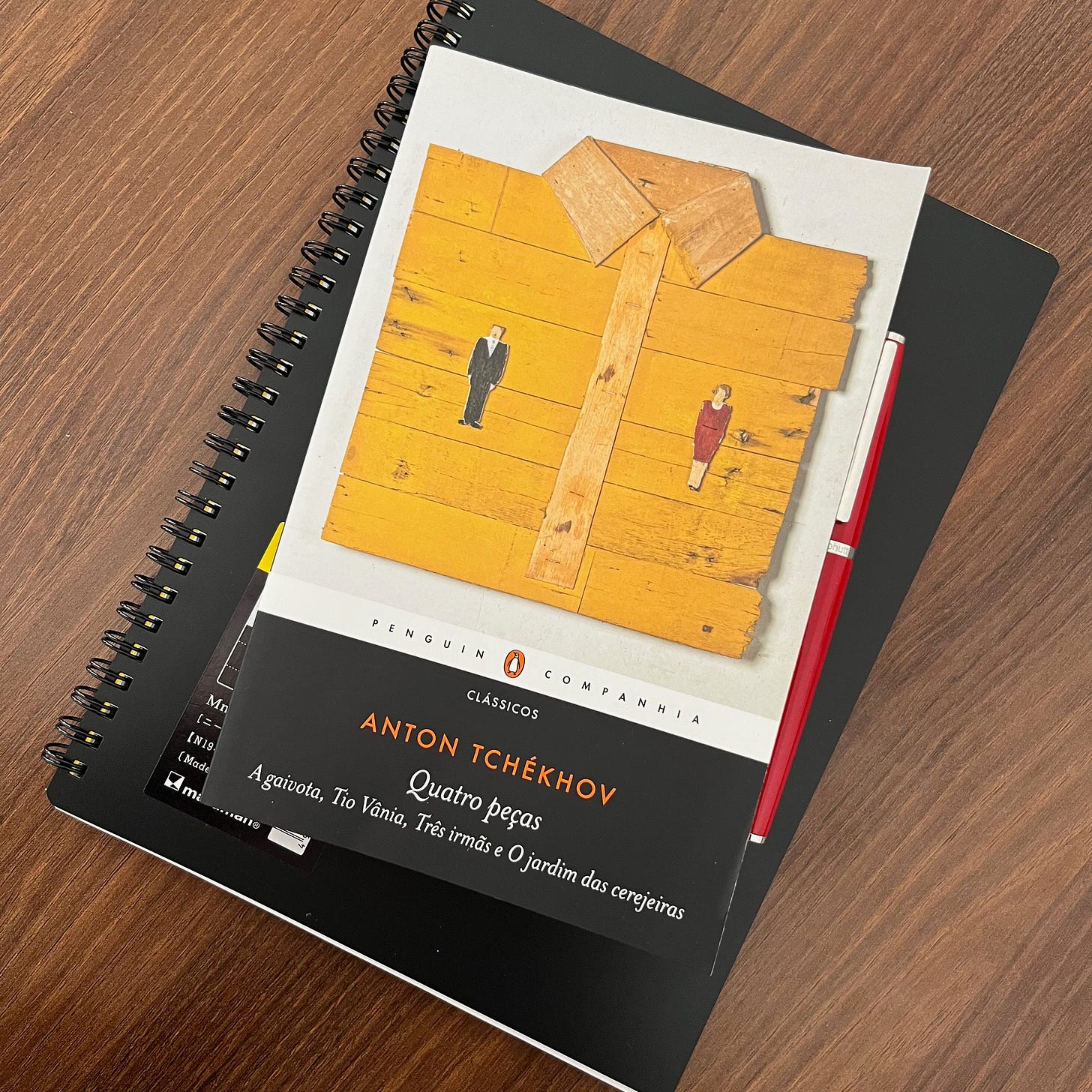
O jardim das cerejeiras
Já com isso tudo fermentando na cachola, e tendo chegado tarde na vida ao mundo imaginário da Rússia do século XIX, foi só em 2008 que conheci a peça O jardim das cerejeiras, de Tchékhov, na montagem de Moacir Chaves, da qual ainda tenho lembranças muito nítidas. Sim, a peça pode ser de 1904, mas acho que ninguém discordaria de que, espiritualmente, ela está mais para o fim do século XIX.
Lá está Liuba Raniévskaia, que vive em Paris e praticamente abre a peça chegando a sua fazenda, um latifúndio nos cafundós da Rússia. A fazenda passa mal, precisa de atenção, logo será leiloada para o pagamento de dívidas. Ou Liuba implementa um plano sugerido por um antigo servo seu, hoje contador num banco da cidade, ou perderá a fazenda. O que diz o plano? É preciso vender o cerejal — não é bem um «jardim» com cerejeiras, é uma floresta com cerejeiras, um cerejal, mas ok, O jardim das cerejeiras soa bem melhor do que O cerejal — e, com a madeira, construir casas de veraneio, um resort naquela região tão agradável. Só assim será possível sustentar a vida aristocrática daquela casa grande.
Porém, dona Liuba, como boa rica brasileira, isto é, russa, só tem olhos para Paris. (Lendo os russos, tenho a impressão de conhecer pessoalmente cada um daqueles personagens.) A ideia de vender aquela floresta linda para fazer casas de veraneio para burguesinhos da cidade lhe parece uma abominação. Ela não quer nem ouvir falar daquilo. Ter cuidado da fazenda que guarda toda a história da família? Bem, ela estava em Paris, não tinha a famosa disponibilidade de vontade para cuidar da fazenda.
Essa é precisamente a raiz da palavra «acídia», que vem do grego akedeo, «descuidar, negligenciar». Pais e filhos (1862), de Turguêniev, também começa com uma fazenda negligenciada; em Demônios, o pai do meu xará lhe rouba a herança… vendendo a madeira de suas terras. Tudo porque a cabeça estava na França, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar de prestígio, onde nem sempre a cabeça também estava fisicamente. Por que se preocupar com a Rússia ou ao menos com a fazenda? Afinal, ela era no máximo um lugar de extração de riquezas materiais…
(Abaixo, duas versões do Jardim das cerejeiras com legendas em português — é só mexer nas configurações do vídeo do YouTube.)
Tio Vânia
A mesma acídia paralisante, esse descuido com o que se tem acoplado ao desejo por aquilo que você acha que nunca vai ter, aparece em Tio Vânia (1897), do mesmo Tchékhov. Devo confessar que essa deve ser a peça do meu coração, aquela a que assisti mais vezes na vida, ainda que sempre em vídeo. Nela, o médico Ástrov fala da floresta desmatada, de como ela piorou a qualidade da vida naquela região, e se dedica ao reflorestamento como quem se dedica a uma causa já perdida. Ástrov e Vânia (que é o diminutivo de Ivan) ficam loucos com a chegada da jovem Elena, que lhes traz, mais do que nunca, a terrível sensação da vida que poderia ter sido e que não foi. A Vânia resta, quase como uma punição, aquilo que Liuba nunca quis: administrar a fazenda. Ele, que, em suas próprias palavras «poderia ter sido um Schopenhauer, um Dostoiévski!», enxerga em Elena a possibilidade de realizar essa suposta vocação. Afinal, ele se julga muito mais talentoso do que Alexandre, professor universitário, intelectual reconhecido, seu rival por ser o marido (também muito mais velho) de Elena — mas também seu cunhado, por ser o marido de sua falecida irmã.

(E como mudam os tempos: hoje, um ano mais velho do que Vânia, que na peça tem 47, nem me ocorreria pensar que minha vida está prestes a acabar; Elena, com meros 27 anos, é considerada «ainda» bonita.)
Em torno dos personagens principais, temos o cenário brasileiro: a mãe de Vânia, feminista que devora panfletos, o que seria o equivalente a acompanhar blogs, Substacks, canais no YouTube, e que atribui o maior prestígio ao genro intelectual. O genro em questão, que não tem a mais vaga sensibilidade para o entorno, e faz questão de tratar todos com a mesma displicência com que Liuba trata todos no Jardim das cerejeiras.
E temos também Sônia (que no Jardim tem sua contrapartida em Vária — o dramaturgo Tchékhov está sempre reescrevendo os mesmos tipos), um dos personagens mais puros da história do teatro, sobrinha de Vânia e filha de sua falecida irmã, suspirando por um Ástrov que, apesar da aparente sensatez, é incapaz de perceber a diferença entre o amor e a limerência, entre o amor viável, real, e o mero sonho de uma vida muito diferente da vida que ele tem.
Ao final, é de Sônia uma das mais belas falas da história do teatro:
Nós vamos viver, tio Vânia. Vamos atravessar uma série muito, muito comprida de dias arrastados e noites longas; vamos suportar com paciência as provações que o destino nos trouxer; vamos trabalhar duro para os outros, agora e na velhice, sem repouso, e quando chegar nossa hora vamos morrer com resignação, e lá, no outro mundo, vamos dizer que sofremos, que choramos, que tivemos muitas amarguras, e Deus vai ter pena de nós, e eu e você, titio, meu tio adorado, vamos conhecer uma vida luminosa, bela, elegante, nós vamos nos alegrar e vamos recordar os nossos desgostos de hoje com carinho, com um sorriso, e vamos descansar. Eu acredito, tio, eu acredito com fervor, com paixão…
(Fica de joelhos diante do tio e pousa a cabeça nas mãos dele; com a voz exausta.)
Nós vamos descansar!
Tieliéguin toca o violão baixinho.
Vamos descansar! Vamos ouvir os anjos, vamos ver todo o céu coberto de diamantes, vamos ver todo o mal da terra e todos os nossos sofrimentos desaparecerem na misericórdia que vai tomar o mundo inteiro, e a nossa vida será serena, cheia de ternura, doce como uma carícia. Eu acredito, eu acredito… (enxuga com um lenço as lágrimas do tio) Pobre tio, pobre tio Vânia, você está chorando… (entre lágrimas) Na sua vida, você não conheceu alegrias, mas espere, tio Vânia, espere… Nós vamos descansar… (abraça-o) Nós vamos descansar!

Resignação, nas palavras dela, e uma solução vital no retorno ao «dever de estado»? Nem tanto. Não vamos procurar normatividade e lições de vida em Tchékhov. Estas são as palavras de uma jovem que, naquele momento, acredita ter sido condenada à frustração da acídia, isto é: a ver a vida passar, à vida que até poderia ser e que definitivamente não será. São as palavras dela ao tio que vislumbra, na outra ponta, a vida que poderia ter sido e que não foi. O que ela pede é uma misericórdia para essa frustração que será a moldura do vazio da sua vida futura.
Neste seminário Grandes Textos 03, vamos ler estas duas peças, estudando a acídia na representação que um de seus grandes poetas fez dela. Vamos entender como esse drama humano da paralisia é traduzido num drama teatral — o drama das coisas que supostamente deveriam acontecer, mas que não acontecem.
(Agora, em vez de chorar com os personagens de Tchékhov, não podemos cogitar superar essa frustração? Isso demandaria que as próprias ilusões do desejo fossem superadas. Para isso, seria preciso uma conversão. Este, porém, é o tema de outro seminário, o seminário de teoria mimética do mês, que divulgarei na próxima newsletter. Juntos, eles perfazem o que estou chamando de «a busca do coração».)