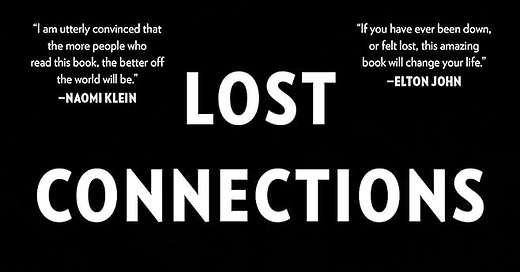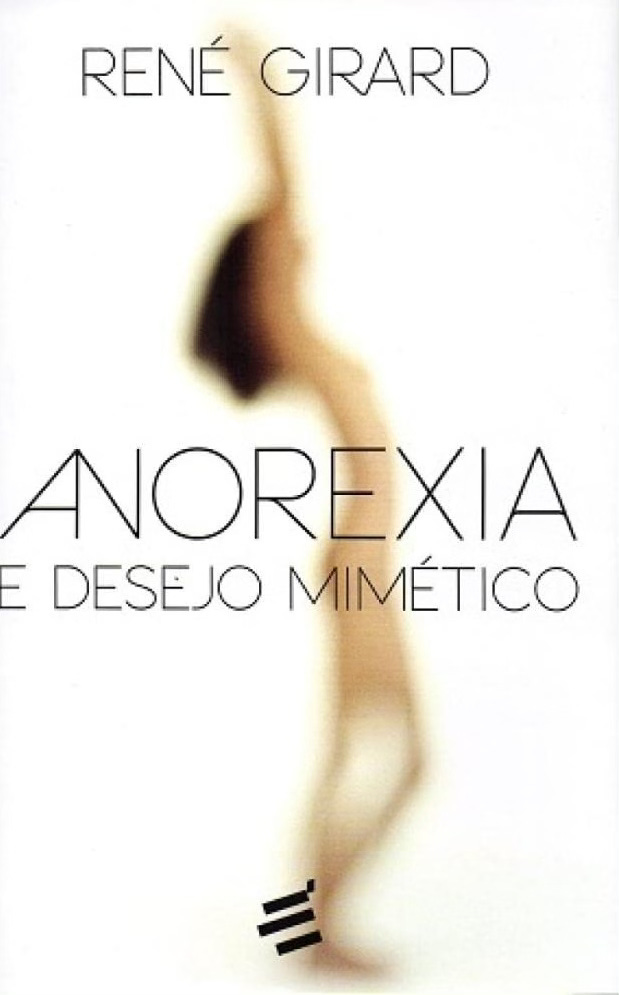106 Depressão, anorexia, e desejo mimético
Mais: exibir força, queer, trans, e um grupo de estudos de quatro semanas, em maio
Dois avisos — o texto da newsletter começa um pouco abaixo
1. Grupo de estudos de Anorexia e desejo mimético, de René Girard: o texto abaixo vale por si, mas fica também o convite para que o leitor participe de um breve grupo de estudos do igualmente breve livro Anorexia e desejo mimético, de René Girard.
Serão quatro sessões, das 20h às 22h de quarta-feira, nos dias 8, 15, 22, e 29 de maio. O valor é de R$ 400. Em cada sessão, apresentarei um tema relacionado ao livro e proporei uma discussão. O grupo deve valer como uma introdução à teoria mimética. Discutiremos não apenas o texto de Girard — aliás disponível gratuitamente em inglês —, mas também o prefácio de Jean-Michel Oughourlian e a introdução de Mark Anspach, que remete ao trabalho de Hilde Bruch com anoréxicas. Eu mesmo já estou impressionado com seu livro Conversations with Anorexics, que fala da anoréxica como a proverbial «boa menina».
A ideia será discutir as relações entre a cultura e os transtornos mentais a partir da teoria mimética. O texto abaixo dá uma ideia dos temas que serão abarcados, e também de sua abordagem.
Essa discussão me parece particularmente relevante num momento em que tudo tende a ser medicalizado e o próprio questionamento da «autoridade» tende a ser visto como um transtorno.
Para inscrever-se, responda este email ou escreva diretamente para ps@pedrosette.com. Já temos profissionais da saúde interessados. As discussões prometem.
2. O curso O mapa do subsolo já tem aulas novas (mas ainda está incompleto!), e o assinante da newsletter tem um cupom de 15% de desconto ao final.
Vamos ao texto de hoje.
1 A depressão segundo Johann Hari
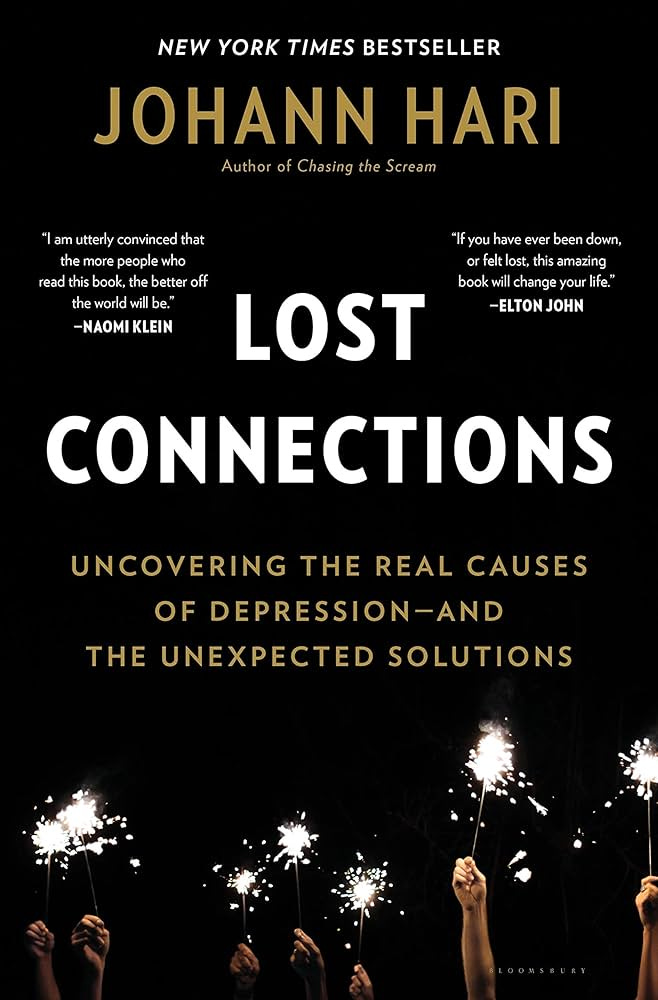
Estou lendo Lost Connections, de Johann Hari, livro que me parece ter grande apelo para dois lados da nossa cultura. Um dos lados talvez venha a sentir uma verdadeira repulsa por esse livro sobre depressão; o outro, em que estou firmemente plantado, talvez o adore.
Tendo lido as duas primeiras partes do livro, resumo assim sua «mensagem»: o motivo de alguém estar deprimido não é tanto algo que está errado em seu corpo, em seu cérebro; é a vida dessa pessoa que está ruim mesmo. As «conexões perdidas» do título são desconexões com elementos — com situações — indispensáveis.
Um homem tem um trabalho repetitivo, monótono, mas que o sustenta. Ele aceitaria outro trabalho, que até pagaria menos. Mas já está enredado na situação. Por acaso o problema dele pode ser resolvido com o acréscimo de um antidepressivo? Seu problema está na sua vida, não em seu cérebro. Ele precisa de um trabalho que faça sentido — e provavelmente destaco esse exemplo porque é o que me dói mais. No momento em que a tradução de livros deixou de fazer sentido para mim…
Mas há outros exemplos. Uma mulher sofre um abuso sexual na adolescência. Torna-se obesa (mais de 150 quilos) com a finalidade de tornar-se sexualmente invisível. Ela não tem conexões significativas com outras pessoas.
Ou ainda: uma pessoa é tratada como se fosse nada, sabe que é substituível no trabalho, não tem ninguém. Ela precisa ser vista com respeito, sentir que seu trabalho é relevante.
E mais: uma pessoa nunca tem contato com a natureza… Etc.
O bom senso de Hari, que diz coisas tão simples, talvez por isso mesmo pareça até um pouco suspeito. Hoje queremos que o verdadeiro seja também contraintuitivo. Hari se antecipa a essa desconfiança com a grande arma retórica do século XXI: estudos, como na frase feita «aponta estudo». Hari sempre tem uma pessoa de jaleco branco lhe dando informações que comprovem aquilo que parece óbvio.
Essas pessoas ficam mais relevantes, em sua retórica, quando ele nos informa, logo no começo do livro, algo que surpreendeu a mim mesmo. Aparentemente, há uma contradição na própria prática da psiquiatria: a facilidade com que os antidepressivos são prescritos nos consultórios não corresponde a um consenso entre os pesquisadores.
Agora, antes de dizer que não estou no campo do «toma remédio que resolve» e sim no campo do «força é mudares de vida» (como no poema de Rilke) porque sou uma alma nobre que valoriza o esforço (actually, I don’t), devo dizer que, desde criança, sempre tive um certo pavor de remédios e da medicina em geral. A ideia de «não tem de tomar remédio, tem é de mudar de vida» tem para mim o apelo do alívio. Mande-me caminhar na areia, pegar sol, mudar minha alimentação, antes de me mandar tomar comprimidos ou, pior ainda, sofrer o ataque de agulhas.
Aqui está a divisão em dois lados. Me parece que outras pessoas preferem crer solução precisa começar pela química do corpo, com o bônus do pouco esforço: basta tomar um comprimido. Também me parece que Michel Houellebecq parodiou isso em Serotonina, porque a primeira coisa (na primeira linha) que o narrador-protagonista faz no romance é tomar um antidepressivo, e o que se segue é a história de uma vida que vai ladeira abaixo.
2 «Anorexia e desejo mimético», de René Girard
Hari me dá a deixa para falar de Anorexia e desejo mimético, porque nesse livro — originalmente apenas uma palestra dada em inglês, cujo texto é tão curto quanto rico — Girard decide falar da anorexia exclusivamente como problema cultural, uma «patologia do desejo».
(Vale adiantar que, no mesmo livro, essa postura será contrabalançada pela preciosa introdução de Mark Anspach.)
O que vai distinguir Girard é que ele insiste que temos uma cumplicidade com a anorexia e com a bulimia. Admito que é uma tese que me é pessoalmente cara: entre os transtornos diversos e a «normalidade» não existe ruptura, mas continuidade. No caso da anorexia, todos queremos ser magros; digamos que algumas pessoas levam isso um pouco mais longe, e outras mais longe ainda. Nas palavras de Girard,
«a anoréxica é uma cidadã leal demais do nosso mundo louco para desconfiar que, ao ouvir o espírito unânime da redução de peso, está sendo empurrada para a autodestruição».
Girard não hesita em levar o mesmo raciocínio para explicar as pessoas que se exercitam apenas para emagrecer ou para manter a forma, e que cuidam da dieta pelos mesmos motivos. Veja que ter um corpo atlético como decorrência da prática de algum esporte é diferente de fazer exercícios apenas para ter um corpo atlético. E que praticar uma dieta para perder peso ou para manter a figura é diferente de praticar a esquecida virtude da frugalidade, que consiste em comer ou beber até a satisfação — e não mais.
(Sim, sei que aqui dirão que ah, mas eu só me satisfaço com muito… Não creio que seja verdade. O corpo tem limites. Comemos além dos limites. Se depois da comida vem a leseira…)
Mais ainda, a magreza é um sinal do domínio de si, da força de vontade. Sempre me lembro de uma dessas entrevistas de comportamento em que uma mulher falava que preferia um homem que tivesse uma barriguinha, porque isso indicava que ele não tinha uma preocupação excessiva com o corpo e seria capaz de relaxar. Talvez o mundo tenha esquecido, mas o relaxamento é uma condição para o prazer.
Girard ainda aponta a anorexia e a bulimia no consumo e nas artes. Na anorexia, temos o minimalismo, o não-consumo ostentatório: veja como só uso roupas velhas, e isso porque me poupo para objetos mais rarefeitos e sublimes do que roupas. Esse minimalismo ostentatório, aliás, não é difícil de distinguir daquela já esquecida frugalidade. Você é minimalista porque tem modelos minimalistas, porque deseja ser «magro», ou você tem noção de quais produtos vai efetivamente usar?

(Confesso que esse modelo de magreza mexe comigo, graças ao sublime poema de Antonio Machado em que ele fala de si como alguém casi desnudo, ligero de equipaje: quase nu, quase sem bagagem. Não é porque um modelo é chique, e vem da poesia espanhola e não de uma Vogue com modelos magrinhas que não é igualmente mimético.)
Para a bulimia, temos o ecletismo. Influências diversas regurgitadas sem digestão. A primeira coisa que me vem à cabeça é a estranha salada tropicalista. Depois, nosso modernismo de 1922, com sua «antropofagia» declarada e seus manifestos; o índio antropófago tinha um ritual elaborado, no qual a digestão era importante, mas o modernista brasileiro foi o primeiro campeão de dedo na garganta.
Se voltamos aqui àquelas pessoas diagnosticadas com anorexia, espero que elas já tenham um certo ar de «meu semelhante, meu irmão».
O livro Anorexia e desejo mimético pode até terminar com uma entrevista em que Girard finca o pé na questão cultural e descarta as motivações que talvez apareçam num consultório, mas o fato de o livro ter sido publicado (em vida de Girard) com a introdução de Mark Anspach, que dá conta da anorexia na dinâmica familiar referindo-se a clássicos como Hilde Bruch, a mim sugere que Girard veio a mudar de ideia. E, de fato, pelo que Anspach cita de Bruch, é tremenda a afinidade de seu trabalho com a teoria mimética.
Temos ainda um prefácio do psiquiatra Jean-Michel Oughourlian (co-autor de Coisas ocultas desde a fundação do mundo), que conecta o trabalho de Hilde Bruch sobre a anorexia com aquilo que eu mesmo venho desenvolvendo sobre o subsolo:
…ela [Bruch] liga a anorexia a uma sensação de impotência e a uma tentativa de revolta contra essa impotência. A seus olhos, a anorexia seria antes de tudo uma tentativa de domínio e uma recusa de toda relação que fuja desse domínio, especialmente a relação amorosa e a sexualidade. Essa abordagem me parece interessante por afastar-se das interpretações psicanalíticas sobre a recusa da feminilidade e da identificação com a mãe, para fazer da anorexia verdadeiramente uma doença da rivalidade e, portanto, do desejo.
3 Questões sugeridas pelo texto de Girard
No entanto, é impossível para mim não ler o texto de Girard sem me perguntar se, primeiro, ele não é um pouco deslocado aqui no nosso Brasil, e, segundo, se ele já não está ao menos um pouco datado, porque a anorexia teria sido substituída por outras questões.
Deslocado porque, no Brasil, só vi o padrão de beleza bem magra ser seguido entre meninas mais ricas, talvez as mais ricas de todas, e entre algumas meninas de classe média. Penso naquelas que realmente buscaram viver esse padrão, em vez de serem apenas assombradas por ele, e que não se limitaram a algumas fases de bulimia; penso naquelas meninas que imediatamente fazem você pensar: «Puxa, ela parece tão magra!». Esse é um daqueles grandes momentos em que você se dá conta da diferença de pontos de vista: a excessiva magreza que choca uns parece a louvável corporificação (a encarnação descarnada…) do autodomínio para outros.
No Orkut, até onde me lembro, as comunidades Ana / Mia (anorexia / bulimia) não eram tão imensamente populares. Isso tudo provavelmente porque o padrão de beleza do brasileiro está mais para Anitta, para as Panicats: a mulher mais larga, com quadris bem largos, coxas grossas, e, recorrendo a um português quase médico, glúteos avantajados. No mundo anglo-europeu o padrão é diferente. Uma mulher inglesa, ao pôr uma roupa, pergunta preocupada: Does my ass look big in this?. Já a brasileira com facilidade encontra na internet métodos para aumentar os glúteos por meio dos devidos exercícios. Por isso, até, eu arriscaria dizer que a brasileira mais magrinha, com «corpo de modelo», ou nasceu assim, ou está mais particularmente atenta à cultura anglo-europeia, sem que uma coisa exclua a outra: afinal, todos preferimos as referências segundo as quais somos celebrados.
Agora falemos de por que o texto seria datado.
Se antigamente a magreza podia ser um ideal, mesmo que essencialmente anglo-europeu, os ideais mudaram. Para começar, o movimento body positive tirou a moral de todo projeto verão, e muitas revistas embarcaram na celebração dos «corpos reais». Porém, esse movimento sempre me faz pensar na frase fundamental do começo da segunda parte das Memórias do subsolo de Dostoiévski: «sinto que os colegas… pareciam olhar para mim com uma espécie de nojo». Se eu fosse traduzi-la para o linguajar de hoje, seria: «sinto que os colegas estão me julgando — por meu corpo, por qualquer traço meu». Daí a típica inversão subsolesca: vou jogar na sua cara o que você acha nojento! Ou: «vai ter blablablá na praia sim!»
E, além de subsolesco, o movimento body positive também me pareceu ter algo de farsa porque continuamos lendo as notícias sobre o peso das celebridades e discutindo a celulite de modelos inequivocamente magras.
Agora, porém, a aposta não se restringe à magreza, mas se estende também à força. Hoje nós, homens e mulheres, queremos ser fortes, ou melhor, fortões: não «apenas» saudáveis, mas musculosos, intimidadores mesmo. Na minha adolescência, a mulher que desejasse ou tivesse um tanquinho era fisiculturista, uma profissional da forma — hoje anglicizamos até isso, falamos do shape. Hoje, até minha guru Heidi Priebe (32 anos) já admitiu, em algum vídeo, que houve um tempo em que achou que ela própria não ter seu tanquinho era uma indignidade que a impedia de exibir a barriga em qualquer circunstância.
E nem falei da internet. Quantas pessoas iriam à academia se não houvesse meios de exibir-se pelos stories do Instagram, isto é, de «documentar a jornada»? Quantas pessoas nem cogitariam o processo se ele não fosse um modo de sinalizar seu pertencimento à classe dos Guerreiros do Bem?
4 Outras questões: trans-, queer, e… o ganho de peso
Percebi que eu mesmo já tinha adaptado o raciocínio de Girard para tratar de outras questões da cultura atual.
Se todos queremos ser únicos, ter a nossa própria identidade, uma pessoa que decide levar sua aparência e seu comportamento além das convenções sociais dos gêneros não está apenas dando um passo além da maioria? Ela não é, também, «uma cidadã leal demais do nosso mundo louco»? Daí o queer. Quem, hoje, negará o absurdo da suposta necessidade de que nos conformemos com o mesmo padrão?
Se você se sente inadequado, desidentificado consigo mesmo, e sente que o seu ser vem da identificação com um modelo totalmente alheio, você não faz parte da lógica trans-, segundo o prefixo latino? Em vez de buscar a aceitação de si, o conhecimento de si, e o desenvolvimento das próprias potencialidades, você se identifica com algo que não está no seu corpo.
Ao mesmo tempo, na minha preocupação constante com a acídia, me pergunto até que ponto ela não pode estar por trás do ganho de peso, em alguns casos. A acídia é uma espécie de falta de desejo. Se você não acredita que vai ter aquilo que deseja — se você fundamentalmente não acredita que vai ter aquilo que deseja, a tal ponto que a sua vida é apenas a resignação que veio depois da desistência —, então é natural que você procure o primeiro consolo que aparece. Daí a pornografia, que oferece uma pequena satisfação sem nenhuma cobrança. Mas, antes da pornografia, a comida: a primeira droga usada pela humanidade. Um chocolate nunca vai decepcionar.
Não que a anorexia seja uma patologia do desejo e o ganho de peso seja sempre uma patologia da falta de desejo. Consigo facilmente detectar outros motivos, ao menos entre as famílias brasileiras, para o ganho de peso, e o primeiro deles é que a comida é uma «linguagem do amor»: as pessoas vão se meter na vida umas das outras, e vão cobrar que você coma «para não fazer desfeita». Ou talvez a convivência seja ruim entre os parentes, e o modo de manifestar amor de maneira inequívoca seja por meio do zelo com o alimento — o que também pode se transformar em motivo de orgulho («minha torta é a melhor!»).
Resta, aí, um trabalho por fazer. Mas familiarizar-se com a teoria mimética por meio da discussão de temas — e não por meio de uma exposição teórica direta — é um pouco como aprender a encontrar o fio que leva para fora do labirinto.
5 A pantera
Uma questão um tanto assustadora, que fica como um prêmio para quem lê o texto até o final, é sugerida por Girard ao comentar um texto importante para Anorexia e desejo mimético: o breve conto «Um artista da fome», de Franz Kafka.
O enredo é simples. Antigamente havia esses «artistas da fome», pessoas que jejuavam por quarenta dias, ou até mais, e eram exibidas no circo. O artista da fome do conto tem verdadeiro orgulho do quanto consegue jejuar, e lamenta ter de interromper sua arte ao fim de quarenta dias. Porém, com o tempo, o público perde o interesse pelo artista da fome, ele é esquecido, e morre sem que ninguém perceba. O circo então decide aproveitar sua jaula — sim, ele ficava numa jaula — para exibir uma pantera. Girard então diz: «Este final muitas vezes é considerado, creio que de modo muito convincente, como uma profecia do nazismo.»
Assim, permitam-me encerrar com uma pergunta para gelar o sangue: a substituição atual da exibição de magreza pela exibição de força intimidatória também vale como presságio sinistro? Estamos trocando a beleza de seres magros a ponto de serem claramente indefesos pela beleza assustadora da pantera?