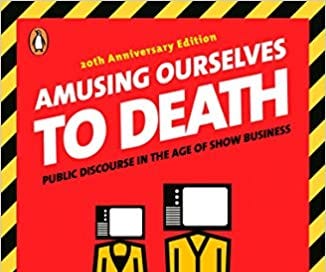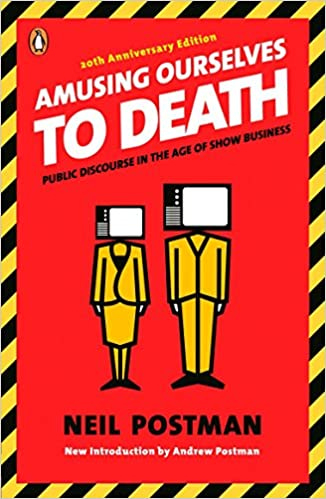Aviso
Esta será a primeira leitura da Oficina de Escrita apresentada na semana passada. Ainda há duas vagas. Caso tenha interesse, responda este email o mais rápido possível, porque as aulas começam esta semana.
A mente tipográfica
Neil Postman. Trad. Pedro Sette-Câmara. Capítulo IV de Amusing Ourselves to Death. Nova York: Viking Publishing, 1985.
O primeiro dos sete famosos debates entre Abraham Lincoln e Stephen A. Douglas aconteceu em 21 de agosto de 1858 em Ottawa, Illinois. Pelo combinado entre os dois, Douglas falaria primeiro, durante uma hora; Lincoln teria uma hora e meia para a réplica; Douglas, meia hora para a tréplica. Esse debate foi consideravelmente mais curto do que aquilo a que os dois homens estavam acostumados. Na verdade, eles já tinham escaramuçado várias vezes antes, e todos os embates tinham sido muito mais demorados e exaustivos. Por exemplo, em 16 de outubro de 1854, em Peoria, Illinois, Douglas fez um discurso de três horas ao qual Lincoln responderia. Quando chegou sua vez, Lincoln recordou ao público que já eram cinco da tarde, que ele provavelmente exigiria tanto tempo quanto Douglas, e que o programa ainda incluía a tréplica de Douglas. Por isso, ele propôs que o público fosse para casa, jantasse, e voltasse descansado para mais quatro horas de discursos.1 O público teve a delicadeza de concordar, e o evento prosseguiu como Lincoln propôs.
Que tipo de público era esse? Quem eram essas pessoas que tão animadamente se adaptavam a sete horas de oratória? Deve-se notar, aliás, que Lincoln e Douglas não eram candidatos a presidente; quando debateram em Peoria, não eram nem sequer candidatos ao Senado dos Estados Unidos. Porém, seus públicos não estavam particularmente interessados em seus cargos. Aquelas pessoas consideravam esses eventos essenciais para sua educação política, viam-nos como parte fundamental de suas vidas sociais, e estavam bastante acostumadas a longas performances de oratória. Era comum que, em feiras estaduais ou regionais, os programas incluíssem muitos oradores, a maioria dos quais tinha direito a três horas para apresentar seus argumentos. E, como se preferia que os discursos não ficassem sem resposta, os oponentes tinham direito ao mesmo tempo. (Talvez se possa acrescentar que os oradores nem sempre eram homens. Numa feira que durou vários dias em Springfield, «Toda noite uma mulher [palestrava] no salão do tribunal sobre “A influência da mulher nos grandes movimentos progressistas do nosso tempo”».2
Além disso, essas pessoas não dependiam de feiras nem de eventos especiais para ter sua dose de oratória. A tradição do orador de «toco» era amplamente praticada, especialmente no estados do oeste. No toco de uma árvore derrubada em algum lugar aberto equivalente, um orador reunia uma plateia, e, como diziam, «subia no toco» por duas ou três horas. Embora as plateias fossem majoritariamente respeitosas e atentas, não eram silenciosas nem indiferentes. Durante os debates entre Lincoln e Douglas, por exemplo, as pessoas gritavam incentivos aos debatedores («Mostra pra eles, Abe!»), ou manifestavam rudes expressões de escárnio («Vamos ver se essa você consegue responder»). Os aplausos eram frequentes, e costumavam ser reservados para uma expressão bem-humorada ou para um argumento convincente. No primeiro debate em Ottawa, Douglas respondeu a uma longa salva de palmas com uma afirmação notável e reveladora. «Caros amigos», disse ele, «para mim, o silêncio será mais aceitável na discussão dessas questões do que as palmas. Gostaria de dirigir-me ao seu juízo, ao seu entendimento e às suas consciências, e não às suas paixões ou aos seus entusiasmos».3 Quanto à consciência da plateia, ou mesmo sua opinião, é difícil dizer muito. Porém, quanto ao seu entendimento, pode-se presumir bastante coisa.
Para começar, o limite da sua atenção obviamente seria extraordinário para os padrões atuais. Existe, hoje, algum público formado por americanos que consiga aguentar sete horas de discursos? Cinco? Três, talvez? E sem nenhum tipo de figura? Segundo, essas plateias devem ter tido uma capacidade igualmente extraordinária de entender de ouvido frases longas e complexas. Em seu discurso de Ottawa, Douglas incluiu em sua fala de uma hora três resoluções longas, formuladas em termos jurídicos, da plataforma da Abolição. Lincoln, em sua resposta, leu trechos ainda mais longos de um discurso já publicado que tinha feito em outra ocasião. Apesar da celebrada economia de estilo de Lincoln, a estrutura de suas frases nos debates era intricada e sutil, assim como a de Douglas. No segundo debate, em Freeport, Illinois, Lincoln respondeu Douglas com as seguintes palavras:
Decerto os senhores percebem que não posso, em meia hora, dar conta de todas as coisas que um homem tão capaz quanto o juiz Douglas consegue dizer em uma hora e meia; e eu espero, portanto, que, caso os senhores desejem que eu comente algo que ele disse, mas que estou deixando de comentar, recordem-se de que seria uma impossibilidade esperar que eu respondesse a todas as palavras dele.4
É difícil imaginar o atual ocupante da Casa Branca5 conseguindo concatenar essas orações em circunstâncias similares. E, caso fosse, ele certamente correria o risco de sobrecarregar a capacidade de compreensão ou de concentração de seu público. As pessoas de uma cultura televisiva precisam de «linguagem simples» tanto para os olhos quanto para os ouvidos, e em certos casos chegarão ao ponto de exigi-la por lei. É provável que o Discurso de Gettysburg fosse amplamente incompreensível para uma plateia de 1985.
O público dos debates entre Lincoln e Douglas aparentemente tinha um domínio considerável das questões discutidas, incluindo o conhecimento de acontecimentos históricos e de questões políticas complexas. Em Ottawa, Douglas fez sete perguntas a Lincoln, e todas elas teriam sido retoricamente inúteis caso o público ignorasse a decisão Dred Scott, a disputa entre Douglas e o presidente Buchanan, o descontentamento de alguns democratas, a plataforma da Abolição, e o famoso discurso da «Casa Dividida» feito por Lincoln em Cooper Union. Além disso, ao responder as perguntas de Douglas num debate posterior, Lincoln fez uma distinção sutil entre o que tinha ou não tinha «jurado» defender e aquilo em que efetivamente acreditava, o que certamente não teria tentado caso presumisse que não seria entendido pela plateia. Por fim, ainda que os dois oradores tenham usado algumas das armas mais simplistas do linguajar da argumentação (por exemplo, xingamentos e generalidades bombásticas), constantemente recorriam a recursos retóricos mais complexos — sarcasmo, ironia, paradoxo, metáforas elaboradas, distinções finas e a denúncia de contradições —, nenhum dos quais teria promovido suas causas respectivas caso a plateia não tivesse plena consciência dos meios utilizados.
Porém, seria falso dar a impressão de que essas plateias de 1858 eram modelos de boas maneiras intelectuais. Todos os debates entre Lincoln e Douglas ocorreram numa atmosfera de quermesse. Bandas tocavam (mas não durante os debates), mascates vendiam seus artigos, crianças brincavam, havia bebida disponível. Os debates eram tanto acontecimentos sociais importantes quanto apresentações retóricas, mas isso não os banalizava. Como indiquei, esses públicos eram compostos de pessoas cujas vidas intelectuais e profissionais estavam plenamente integradas a seu mundo social. Como observou Winthrop Hudson, até mesmo os camp meetings metodistas combinavam piqueniques com oportunidades de ouvir oratória.6 De fato, a maioria dos terrenos dos camps originalmente estabelecidos por inspiração religiosa — Chataqua, Nova York; Ocean Grove, Nova Jersey; Bayview, Michigan; Junaluska, Carolina do Norte — acabaram sendo transformados em centros de conferências, atendendo a funções educativas e intelectuais. Em outras palavras, o uso da linguagem como meio de argumentação complexa era uma forma de discurso prazerosa e comum em quase todas as arenas públicas.
Para entender o público ao qual Lincoln e Douglas dirigiam suas palavras memoráveis, temos de lembrar que essas pessoas eram os netos e bisnetos do Iluminismo (na versão americana). Eram a progenitura de Franklin, de Jefferson, de Madison, e de Tom Paine, os herdeiros do Império da Razão, como disse Henry Steele Commager sobre a América oitocentista. É verdade que entre eles havia pioneiros da fronteira, alguns dos quais mal chegavam a ser alfabetizados, e imigrantes para os quais o inglês ainda era estranho. Também é verdade que, em 1858, já tinham sido inventados a fotografia e o telégrafo, as tropas avançadas de uma nova epistemologia que acabaria com o Império da Razão. Porém, isso só ficaria evidente no século XX. No momento dos debates entre Lincoln e Douglas, os Estados Unidos ainda estavam nos anos médios de seu mais glorioso transbordamento literário. Em 1858, Edwin Markham tinha seis anos; Mark Twain, vinte e três; Emily Dickinson, vinte e oito; Whitman e James Russel Lowell, trinta e nove; Thoreau, quarenta e um; Melville, quarenta e cinco; Whittier e Longfellow, cinquenta e um; Hawthorne e Emerson, cinquenta e quatro e cinquenta e cinco; Poe tinha falecido nove anos antes.
Escolhi os debates entre Lincoln e Douglas como ponto de partida deste capítulo não apenas porque foram o grande exemplo de discurso político de meados do século XIX, mas também porque ilustram a força da tipografia no controle da natureza desse discurso. Tanto os oradores quanto seu público estavam habituados a um tipo de oratória que pode ser descrito como literário. Apesar de toda a empolgação e de toda a socialização relacionada ao evento, os falantes tinham pouco a oferecer, e os públicos pouco a esperar, além de linguagem. E a linguagem que era oferecida tinha como modelo evidente o estilo da palavra escrita. Para qualquer pessoa que tenha lido o que Lincoln e Douglas disseram, isso é óbvio desde o começo. Os debates começavam, aliás, com Douglas fazendo a seguinte introdução, altamente característica de tudo que era dito depois:
Senhoras e senhores: apresento-me a vós hoje com o fim de discutir os principais temas políticos que hoje perturbam a mente do público. O sr. Lincoln e eu concordamos em vir aqui hoje discutir em conjunto, como representantes dos dois grandes partidos políticos do Estado e da União, a respeito dos princípios em questão entre esses partidos, e esta vasta congregação de pessoas mostra o profundo sentimento que permeia a mente do público em relação às questões que nos dividem.7
Essas palavras são puro prelo. Que a ocasião exigisse que fossem faladas em voz alta não obscurece esse fato. E que o público conseguisse processá-las pelo ouvido só é notável para pessoas em cuja cultura não são mais sentidas fortes ressonâncias da palavra impressa. Não apenas Lincoln e Douglas escreviam todos os seus discursos de antemão, como também planejavam suas réplicas por escrito. Até mesmo as interações espontâneas entre os oradores eram expressadas em frases cujas estrutura, duração, e organização retórica derivavam sua forma da escrita. Certamente havia elementos de pura oralidade em suas apresentações. Afinal, nenhum dos dois falantes era alheio aos ânimos das plateias. Mesmo assim, a ressonância da tipografia sempre se fazia presente. Havia argumento e contra-argumento, afirmação e contra-afirmação, crítica de textos relevantes, um exame apuradíssimo das palavras enunciadas pelo oponente. Em suma, os debates entre Lincoln e Douglas podem ser descritos como prosa expositiva tirada integralmente da página impressa. É esse o sentido da censura de Douglas à plateia. Ele afirmava dirigir-se ao entendimento e não à paixão, como se o público devesse compor-se de leitores silenciosos, reflexivos, e suas palavras fossem o texto que eles devem meditar. O que, é claro, nos traz às seguintes perguntas: quais são as implicações, para o discurso público, de uma metáfora escrita, ou tipográfica? Qual a natureza de seu conteúdo? O que ela exige do público? Quais usos da mente são favorecidos por ela?
Creio que é preciso começar apontando o fato óbvio de que a palavra escrita e uma oratória baseada nela têm um conteúdo: um conteúdo semântico, parafraseável, proposicional. Devo enfatizar aqui esse ponto. Sempre que a linguagem é o principal meio de comunicação — especialmente a linguagem controlada pelos rigores do prelo — o resultado inevitável é uma ideia, um fato, uma afirmação. A ideia pode ser banal, o fato pode ser irrelevante, a afirmação pode ser falsa, mas não há como fugir do significado quando a linguagem é o instrumento que guia o pensamento. É muito difícil dizer nada quando se usa uma frase escrita em inglês, ainda que às vezes se consiga. Para que mais serve a exposição? As palavras não têm muito mais a seu favor do que serem portadoras de significado. Os formatos das palavras escritas não são especialmente interessantes de mirar. Até os sons das frases de palavras faladas raramente interessam, exceto quando são compostos por aqueles que têm dons poéticos extraordinários. Se uma frase se recusa a apresentar um fato, um pedido, uma pergunta, uma declaração, uma explicação, ela não tem sentido, e não passa de uma casca gramatical. Por conseguinte, um discurso centrado na linguagem, como era característico da América dos séculos XVIII e XIX tende a ser tanto repleto de conteúdo quanto sério, ainda mais quando toma sua forma da palavra impressa.
É sério porque o significado exige ser entendido. Uma frase escrita convoca seu autor a dizer algo, seu leitor a conhecer o sentido do que está sendo dito. E, quando um autor e um leitor estão lutando com o sentido semântico, estão empenhados no mais sério desafio ao intelecto. Isso é especialmente verdadeiro no caso da leitura, porque os autores nem sempre são confiáveis. Eles mentem, ficam confusos, fazem generalizações excessivas, abusam da lógica, e, às vezes, do bom senso. O leitor precisa vir armado, num estado sério de prontidão intelectual. Isso não é fácil, porque ele chega sozinho ao texto. Na leitura, as respostas de cada pessoa são isoladas, o intelecto fica abandonado a seus próprios recursos. Ser confrontado pelas frias abstrações das frases impressas é olhar a linguagem nua, sem a ajuda nem da beleza, nem da comunhão. Assim, a leitura é, por natureza, séria. Também é, obviamente, uma atividade essencialmente racional.
De Erasmo no século XVI a Elizabeth Eisenstein no século XX, quase todos os estudiosos que enfrentaram a questão do que a leitura faz com os hábitos mentais concluíram que o processo incentiva a racionalidade; que a natureza sequencial, proposicional da palavra escrita incentiva aquilo que Walter Ong denomina «a gestão analítica do conhecimento». Lidar com a palavra escrita significa seguir uma linha de pensamento, o que exige poderes consideráveis de classificação, de produção de inferências, e de raciocínio. Significa desvelar mentiras, confusões, e generalizações excessivas, detectar abusos da lógica e do bom senso. Também significa ponderar ideias, comparar e contrastar afirmações, conectar uma generalização com outra. Para fazer isso, é preciso chegar a uma certa distância das palavras mesmas, o que é efetivamente incentivado pelo texto isolado e impessoal. É por isso que um bom leitor não dá vivas para uma frase adequada nem faz uma pausa para aplaudir um parágrafo, por mais inspirado que seja. O pensamento analítico está demasiado ocupado e distanciado para isso.
Não quero dizer que, antes da palavra escrita, o pensamento analítico não era possível. Refiro-me não às potencialidades da mente individual, mas às predisposições de uma mentalidade cultural. Numa cultura dominada pelo prelo, o discurso público tende a caracterizar-se por uma disposição coerente e ordenada de fatos e de ideias. A plateia à qual ele se dirige é em geral competente no manejo desse discurso. Na cultura do prelo, os autores cometem erros quando mentem, se contradizem, não embasam suas generalizações, ou tentam forçar conexões ilógicas. Na cultura do prelo, os leitores cometem erros quando não reparam, ou pior, não se importam.
Nos séculos XVIII e XIX, o prelo promoveu uma definição de inteligência que priorizava o uso objetivo e racional da mente e ao mesmo tempo incentivava formas de discurso público com conteúdo sério e ordenado logicamente. Não foi por acaso que a Era da Razão coexistiu com o crescimento de uma cultura do prelo, primeiro na Europa e depois na América. A disseminação da tipografia alimentava a esperança de que o mundo e sua miríade de mistérios poderiam ser enfim entendidos, previstos, controlados. Foi no século XVIII que a ciência — o exemplo por excelência da gestão analítica do conhecimento — começou a remodelar o mundo. Foi no século XVIII que se demonstrou que o capitalismo era um sistema racional e liberal da vida econômica, que a superstição religiosa foi furiosamente atacada, que a ideia de progresso contínuo tornou-se dominante, e que a necessidade de alfabetização universal por meio da educação ficou evidente.
Talvez a expressão mais otimista de tudo que a tipografia implicava esteja contida neste parágrafo da autobiografia de John Stuart Mill:
A confiança de meu pai na influência da humanidade era tão completa que, onde quer que [a alfabetização] a alcançasse, que ele achava que haveria tudo a ganhar se a população inteira aprendesse a ler, se todo tipo de opinião pudesse ser apresentado a ela em palavras, por escrito, e se, por meio do voto, ela pudesse nomear uma legislatura para dar efeito à opinião que ela adotasse.8
Essa esperança, é claro, nunca se realizou por completo. Em momento nenhum da história da Inglaterra ou da América (ou de qualquer outro lugar) o domínio da razão foi tão pleno quanto Mill pai imaginava que seria permitido pela tipografia. Mesmo assim, não é difícil demonstrar que nos séculos XVIII e XIX o discurso público americano, enraizado no viés da palavra impressa, era sério, inclinado à discussão e à apresentação racionais, e, portanto, composto de conteúdo significativo.
Tomemos o discurso religioso como ilustração desse ponto. No século XVIII, os fiéis religiosos eram tão influenciados pela tradição racionalista quanto quaisquer outras pessoas. O Novo Mundo oferecia liberdade religiosa a todos, o que significava que nenhuma força além da própria razão poderia ser usada para iluminar os descrentes. «Aqui o deísmo9 terá plena oportunidade», disse Ezra Stiles num de seus famosos sermões em 1783. «Os libertinos não precisam mais reclamar de serem sobrepujados por armas, exceto pelas armas poderosas dos argumentos e da verdade.»10
Deixando de lado os libertinos, sabemos que os deístas certamente tiveram plena oportunidade. É altamente provável, aliás, que os quatro primeiros presidentes do Estados Unidos fossem deístas. Jefferson certamente não acreditava na divindade de Jesus Cristo, e, enquanto era presidente, escreveu uma versão dos Quatro Evangelhos da qual retirou todas as referências a acontecimentos «fantásticos», guardando apenas o conteúdo ético dos ensinamentos de Jesus. Diz a lenda que, quando Jefferson foi eleito presidente, senhoras idosas esconderam suas Bíblias e derramaram lágrimas. O que teriam feito caso Tom Paine tivesse se tornado presidente, ou ocupado algum alto cargo no governo, é difícil de imaginar. Em A era da razão, Paine atacava a Bíblia e toda a teologia cristã subsequente. Quanto a Jesus Cristo, Paine concedia que fora um homem virtuoso e afável, mas asseverava que as histórias a respeito de sua divindade eram absurdas e profanas, o que, como bom racionalista, ele tentou provar por meio de uma minuciosa análise textual da Bíblia. «Todas as instituições nacionais das igrejas», escreveu, «quer judaicas, cristãs, ou turcas, parecem-me tão somente invenções humanas, estabelecidas para aterrorizar e para escravizar a humanidade, e para monopolizar poder e lucro.»11 Por causa de A era da razão, Paine perdeu sua posição no panteão dos Pais Fundadores (e ainda hoje é tratado de maneira ambígua nos livros-textos de história dos Estados Unidos). Porém, Ezra Stiles não disse que libertinos e deístas seriam amados: apenas que, tendo a razão como júri, eles poderiam pronunciar-se publicamente. Com o apoio dos entusiasmos iniciais evocados pela Revolução Francesa, o ataque deísta às igrejas, declaradas inimigas do progresso, e à superstição religiosa, declarada inimiga da racionalidade, tornou-se um movimento popular.12 As igrejas, é claro, responderam, e quando o deísmo deixou de interessar, elas brigaram entre si. Por volta de meados do século XVIII, Theodore Frelinghuysen e William Tennent lideraram um movimento avivacionista entre os presbiterianos. Foram seguidos pelas três grandes figuras associadas a «despertares» religiosos nos Estados Unidos — Jonathan Edwards, George Whitefield, e, posteriormente no século XIX, Charles Finney.
Esses homens foram pregadores de sucesso espetacular, cujo apelo alcançava regiões da consciência muito além de onde a razão governa. Dizia-se que bastava Whitefield pronunciar a palavra «Mesopotâmia» para fazer a plateia chorar. Talvez seja por isso que Henry Coswell escreveu em 1839 que “a mania religiosa, como dizem, é a forma dominante de insanidade nos Estados Unidos».13 Porém, é essencial ter em mente que as disputas doutrinárias entre movimentos de avivamento dos séculos XVIII e XIX e as igrejas estabelecidas, suas ferozes adversárias, eram travadas em panfletos e em livros, numa linguagem amplamente racional e ordenada logicamente. Seria um grave erro tomar Billy Graham ou algum outro avivacionista televisivo por um Jonathan Edwards ou Charles Finney dos últimos dias. Edwards foi uma das mentes mais brilhantes e criativas jamais produzidas pelos Estados Unidos. Sua contribuição para a teoria estética foi quase tão importante quanto sua contribuição para a teologia. Seus interesses eram majoritariamente acadêmicos; ele passava longas horas todos os dias em seu gabinete. Ele não falava com seus públicos de maneira extemporânea. Ele lia seus sermões, os quais, muito bem amarrados, eram exposições de doutrina teológica minuciosamente argumentadas.14 As plateias podiam comover-se emocionalmente com as palavras de Edwards, mas, antes de tudo, tinham de entendê-las. Aliás, a fama de Edwards era amplamente o resultado de um livro, Faithful Narrative of the Surprising Work of God in the Conversion of Many Hundred Souls in Northamton [Narrativa fiel da surpreendente obra de Deus na conversão de muitas centenas de almas em Northampton], publicado em 1737. Um livro posterior, A Treatise Concerning Religious Affections [Tratado sobre os afetos religiosos], publicado em 1746, é considerado um dos mais notáveis estudos psicológicos já produzidos no país.
Ao contrário das principais figuras do «grande despertar» de hoje — Oral Roberts, Jerry Falwell, Jimmy Swaggart, et al., os líderes de ontem dos movimentos avivacionistas nos Estados Unidos eram homens de estudo, de fé na razão, e de generosos dons expositivos. Suas disputas com os establishments religiosos tratavam tanto de teologia e da natureza da consciência quanto da inspiração religiosa. Finney, por exemplo, não era nenhum «caipira dos cafundós», como às vezes diziam seus oponentes doutrinários.15 Tinha estudado Direito, escrito um livro importante de teologia sistemática, e terminou a carreira como professor e depois reitor do Oberlin College.
As disputas doutrinais entre os fiéis religiosos não apenas eram discutidas em exposições cuidadosamente organizadas no século XVIII, como, no século XIX, eram resolvidas por meio do extraordinário recursos de fundar faculdades. Às vezes se esquece que as igrejas na América lançaram as bases do nosso sistema de educação superior. Harvard, é claro, foi estabelecida cedo — em 1636 — com a finalidade de prover ministros com sólida formação para a Igreja Congregacional. E, sessenta e cinco anos depois, quando os congregacionalistas disputaram entre si a respeito de doutrina, o Yale College foi fundado para corrigir as más influências de Harvard (ainda hoje, Yale afirma carregar esse fardo). O forte veio intelectual dos congregacionalistas tinha sua contrapartida em outras denominações, certamente na sua paixão por fundar faculdades. Os presbiterianos fundaram, entre outras escolas, a Universidade do Tennessee em 1784, de Washington e Jefferson em 1802, e de Lafayette em 1826. Os batistas fundaram, entre outras escolas, Colgate (1817), George Washington (1821), Furman (1826), Denison (1832), e Wake Forest (1834). Os episcopalianos fundaram Hobart (1822), Trinity (1823), e Kenyon (1824). Os metodistas fundaram oito faculdades entre 1830 e 1851, incluindo Wesleyan, Emory, e Depauw. Além de Harvard e de Yale, os congregacionalistas fundaram Williams (1793), Middlebury (1800), Amherst (1821), e Oberlin (1833).
Se essa preocupação com a alfabetização e com o estudo é «uma forma de insanidade», como disse Coswell da vida religiosa da América, então, que venha mais dela. Nos séculos XVIII e XIX, o pensamento religioso e as instituições na América eram dominados por uma forma de discurso austera, erudita, e intelectual que hoje está amplamente ausente da vida religiosa. O exemplo mais claro da diferença entre formas mais antigas e modernas de discurso público que se pode encontrar está no contraste entre os argumentos teológicos de Jonathan Edwards e os de, digamos, Jerry Falwell, ou Billy Graham, ou Oral Roberts. O tremendo conteúdo da teologia de Edwards inevitavelmente empenha o intelecto; se esse conteúdo existe na teologia dos evangelistas televisivos, eles ainda não o apresentaram.
As diferenças entre a natureza do discurso numa cultura baseada na palavra impressa e a natureza do discurso numa cultura baseada na televisão também são evidentes quando se olha o sistema jurídico.
Numa cultura baseada na palavra impressa, os advogados tendiam a ter boa formação, a dedicar-se à razão, e faziam exposições argumentativas impressionantes. Com frequência se negligencia nos livros de história dos Estados Unidos que nos séculos XVIII e XIX a profissão de advogado representava «uma espécie de corpo privilegiado na escala do intelecto», como disse Tocqueville. Alguns desses advogados foram transformados em heróis populares, como Sergeant Prentiss, do Alabama, ou o «Honesto» Abe Lincoln de Illinois, cuja destreza na manipulação de júris era altamente teatral, não muito diferente da versão televisiva de um advogado de tribunal. Porém, as grandes figuras da jurisprudência americana — John Marshall, Joseph Story, James Kent, David Hoffman, William Wirt, e Daniel Webster — eram modelos de elegância intelectual e de dedicação à racionalidade e ao estudo. Eles acreditavam que a democracia, apesar de todas as suas virtudes óbvias, apresentava o risco de desencadear um individualismo indisciplinado. Sua aspiração era salvar a civilização na América «criando uma racionalidade para a lei».16 Como consequência dessa visão exaltada, eles acreditavam que a lei não devia ser apenas uma profissão erudita, mas liberal. Job Tyson, famoso professor de Direito, afirmava que todo advogado deve conhecer as obras de Sêneca, de Cícero, e de Platão.17 George Sharswood, talvez visualizando o estado degradado da educação jurídica no século XX, disse em 1854 que estudar exclusivamente o Direito prejudicaria a mente, «agrilhoando-a aos pormenores com que ela tanto se familiariza, e incapacitando-a para adotar visões amplas e abrangentes até mesmo de temas dentro de seus horizontes».18
A insistência numa mente jurídica liberal, racional, e articulada, era reforçada pelo fato de que os Estados Unidos tinham uma constituição escrita, assim como todos os seus estados componentes, e que o Direito não crescia ao acaso, mas era formulado explicitamente. O advogado precisava ser um homem de escrita e de leitura por excelência, pois a razão era a principal autoridade a partir da qual as questões jurídicas seriam decididas. John Marshall foi, é claro, o grande «modelo da razão, um símbolo tão vívido para a imaginação americana quanto Natty Bumppo»1920 Ele era o grande exemplo do Homem Tipográfico — distanciado, analítico, dedicado à lógica, com horror à contradição. Dele se dizia que jamais usava a analogia como principal apoio de seus argumentos. Ao invés disso, ele introduzia a maioria de suas decisões com a expressão «admite-se que…» Uma vez que suas premissas eram admitidas, você normalmente era obrigado a aceitar sua conclusão.
Numa medida difícil de imaginar hoje em dia, os americanos anteriores tinham familiaridade não apenas com as grandes questões jurídicas de seu tempo, mas até com as palavras com que advogados famosos tinham usado em suas argumentações no tribunal. Isso valia especialmente para Daniel Webster, e era nada menos do que natural que Stephen Vincent Benét, em seu famoso conto, tenha escolhido Daniel Webster para disputar com o Diabo. Como poderia o Diabo triunfar sobre um homem cujas palavras, segundo Joseph Story, juiz da Suprema Corte, tinham as seguintes características?
…sua clareza e total simplicidade de expressão, sua vasta abrangência de temas, sua fertilidade para ilustrações tiradas de fontes práticas; sua análise aguçada, e sua sugestão de dificuldades; sua capacidade para desenredar uma proposição complicada, e decompô-la em elementos claros a ponto de alcançar as mentes mais vulgares; seu vigor nas generalizações, plantando seus próprios argumentos atrás da artilharia inteira de seus adversários; seu cuidado e sua cautela para não trair-se a si mesmo, no calor do momento, e assumir posições inviáveis, nem para espalhar suas forças sobre terreno inútil.21
Cito o trecho inteiro porque é a melhor descrição oitocentista que conheço da natureza do discurso esperado de alguém cuja mente foi formada pela palavra impressa. É exatamente o ideal e modelo que James Mill tinha em mente ao profetizar a respeito das maravilhas da tipografia. E se o modelo era um tanto inalcançável, mesmo assim era um ideal ao qual todo advogado aspirava.
A influência desse ideal ia muito além da advocacia ou da pregação religiosa. Até no mundo cotidiano do comércio podia-se encontrar ressonâncias do discurso racional e tipográfico. Se tomarmos a propaganda como a voz do comércio, então sua história diz muito claramente que, nos séculos XVIII e XIX, aqueles que tinham produtos para vender consideravam que seus clientes seriam como Daniel Webster: eles presumiam que os potenciais compradores eram alfabetizados, racionais, analíticos. De fato, a história da propaganda em jornais na América pode ser considerada, exclusivamente em si mesma, uma metáfora da descida da mente tipográfica, começando, como de fato começa, com a razão, e terminando, como de fato termina, com o entretenimento. Em seu clássico estudo The History and Development of Advertising [A história e o desenvolvimento da propaganda], Frank Presbrey discute o declínio da tipografia, datando sua morte por volta do fim da década de 1860 e do começo da década de 1870. Ele chama o período anterior a esse de “idade das trevas” do leiaute tipográfico.22 A idade das trevas de que ele fala começou em 1704, quando os primeiros anúncios pagos apareceram num jornal americano, The Boston News-Letter. Eram três no total, ocupando, juntos, quatro polegadas de uma coluna. Um deles oferecia uma recompensa pela captura de um ladrão; outro oferecia uma recompensa pela devolução de uma bigorna que tinha sido «levada» por um desconhecido. O terceiro efetivamente oferecia algo para vender, e, de fato, não é diferente de anúncios de imóveis que se poderia ver hoje no New York Times:
Em Oysterbay, em Long Island na Província de Nova York, há uma Usina de Pisoagem, para Venda ou Aluguel, e também uma Plantação, a qual conta com uma grande casa de Tijolos nova, e outra boa casa por perto para servir de Cozinha & workhouse23, com Celeiro, Estábulo, &c. um jovem Pomar e 20 acres de terra livre. A Usina pode ser alugada com ou sem a Plantação; perguntar pelo Sr. William Bradford Printer em N. York, para saber mais.24
Durante mais de um século e meio depois, os anúncios tiveram essa forma, com alterações menores. Por exemplo, sessenta e quatro anos depois de o sr. Bradford ter anunciado uma propriedade em Oyster Bay, o lendário Paul Revere pôs o seguinte anúncio na Boston Gazette:
Como muitas pessoas têm a infelicidade de perder os Dentes da Frente por Acidente, e de outras maneiras, para seu grande Prejuízo, não apenas na Aparência, mas ao Falar tanto em Público quanto em Privado: — Estejam todas informadas de que podem substituí-los por Dentes falsos, de tão boa aparência quanto os Naturais, e que Atendem a Finalidade da Fala para todos os Fins, por PAUL REVERE, Ourives, perto do começo do cais Dr. Clarke, Boston.25
Em outro parágrafo, Revere explicava que aqueles cujos dentes falsos tinham sido implantados por John Baker, e que tinham sofrido a indignidade de seu afrouxamento, podiam vir até Revere para apertá-los. Ele indicava ter aprendido a fazer isso com o próprio John Baker.
Foi só quase cem anos depois do anúncio de Revere que os anunciantes realmente tentaram superar o formato linear e tipográfico exigido pelos editores.26 E foi só no fim do século XIX que a propaganda passou por completo para seu modo moderno de discurso. Em 1890, a propaganda, ainda vista como algo que consistia de palavras, era considerada uma empreitada essencialmente séria e racional, cujo propósito era transmitir informações e fazer afirmações na forma de proposições. A propaganda, como disse Stephen Douglas em outro contexto, ainda pretendia apelar ao entendimento, não às paixões. Isso não equivale a dizer que, durante o período do leiaute tipográfico, as afirmações apresentadas fossem verdadeiras. Palavras não têm como garantir seu conteúdo de verdade. Antes, elas reúnem um contexto em que a pergunta «isto é falso ou verdadeiro?» é relevante. Na década de 1890, esse contexto foi destruído, primeiro pela maciça intrusão de ilustrações e de fotografias, depois pelo uso não-proposicional da linguagem. Por exemplo, na década de 1890 os anunciantes adotaram a técnica de usar slogans. Presbrey propõe que se pode dizer que a propaganda moderna começa com o uso de dois desses slogans: You press the button; we do the rest [«Você aperta o botão; nós fazemos o resto»] e See that hump? [Está vendo essa protuberância?]. Mais ou menos na mesma época começaram a ser usados jingles, e, em 1892, a Procter and Gamble convidou o público a enviar rimas para anunciar o sabão Ivory. Em 1896, a H-O usou, pela primeira vez, a imagem de um bebê numa cadeirinha alta, a cumbuca de cereal à sua frente, a colher na mão, o rosto em êxtase. Na virada do século, os anunciantes não presumiam mais a racionalidade em seus clientes potenciais. A propaganda se tornou metade psicologia profunda, metade teoria estética. A razão teve de se deslocar para outras arenas.
Para entender o papel que a palavra impressa desempenhou ao prover para uma América mais antiga seus pressupostos a respeito da inteligência, da verdade, e da natureza do discurso, é preciso ter em mente que o ato da leitura nos séculos XVIII e XIX tinha uma qualidade inteiramente distinta da qualidade que tem hoje. Para começar, como falei, a palavra impressa tinha o monopólio tanto da atenção quanto do intelecto, não havendo nenhum outro meio, além da tradição oral, de ter acesso ao conhecimento público. As figuras públicas, por exemplo, eram amplamente conhecidas por suas palavras escritas, e não por sua aparência, ou sequer por sua oratória. É muito provável que a maioria dos primeiros quinze presidentes dos Estados Unidos não fosse reconhecido caso passasse pelo cidadão médio na rua. Esse também seria o caso dos grandes advogados, ministros, e cientistas da época. Pensar nesses homens era pensar no que eles tinham escrito, julgá-los por suas posições públicas, por seus argumentos, por seu conhecimento codificado na palavra impressa. Você pode ter alguma ideia de como estamos separados desse tipo de consciência ao pensar em qualquer um dos nossos últimos presidentes; ou até mesmo nos pregadores, advogados, e cientistas que recentemente foram figuras públicas. Pense em Richard Nixon, em Jimmy Carter, em Billy Graham, ou mesmo em Albert Einstein, e aquilo que virá à sua mente é uma imagem, a figura de um rosto, provavelmente um rosto numa tela de TV (no caso de Einstein, a fotografia de um rosto). Das palavras, quase nada virá à mente. Essa é a diferença entre pensar numa cultura centrada nas palavras e pensar numa cultura centrada nas imagens.
Essa é também a diferença entre viver numa cultura que oferece poucas oportunidades de lazer, e outra que oferece muitas. O jovem agricultor que segue o arado com o livro na mão, a mãe que lê em voz alta para a família numa tarde de domingo, o mercador que lê os anúncios das últimas chegadas de navios — esses leitores eram diferentes dos de hoje. Haveria muito pouca leitura casual, porque não havia muito tempo para isso. A leitura teria tido em si um elemento sagrado, ou ao menos teria ao menos ocorrido como um ritual diário ou semanal investido de significado especial. Afinal, também temos de lembrar que essa cultura também não tinha eletricidade. Não teria sido fácil ler nem à luz de velas, nem, depois, à luz da lamparina. Sem dúvida, muita leitura acontecia entre o amanhecer e o começo das ocupações do dia. Toda leitura era feita com seriedade, de maneira intensa, e com propósito constante. A ideia moderna de testar a «compreensão» de um leitor, como algo distinto de outra coisa que o leitor possa estar fazendo, teria parecido absurda em 1790, em 1830, ou em 1860. O que mais era ler, se não compreender? Até onde sabemos, não existia «problema de leitura», exceto, é claro, para aqueles que não podiam frequentar a escola. Frequentar a escola significava aprender a ler, pois, sem essa capacidade, você não podia participar das conversas da cultura. Porém, a maioria das pessoas sabia ler e participava. Para essas pessoas, a leitura era tanto sua conexão com o mundo quanto seu modelo dele. A página impressa revelava o mundo, linha por linha, página por página, como um lugar sério, coerente, que podia ser gerido pela razão, e aprimorado pela crítica lógica e relevante.
Em praticamente qualquer lugar que você olhe nos séculos XVIII e XIX, você encontra as ressonâncias da palavra impressa, e, em particular, de sua relação inextricável com todas as formas de expressão pública. Pode ser verdade, como escreveu Charles Beard, que a motivação primária dos autores da Constituição dos Estados Unidos fosse a proteção de seus interesses econômicos. Mas também é verdade que eles presumiam que a participação na vida pública exigia a capacidade de lidar com a palavra impressa. Para eles, a cidadania madura não era concebível sem um letramento sofisticado, e é por isso que a idade em que se podia votar na maioria dos estados foi fixada em vinte e um anos, e por isso que Jefferson viu na educação universal a maior esperança da América. E é por isso também que, como observaram Allan Nevins e Henry Steele Commager, as restrições de voto contra aqueles que não tinham propriedade eram frequentemente negligenciadas, mas não o analfabetismo.
Pode ser verdade, como escreveu Frederick Jackson Turner, que o espírito que alimentava a mente americana era a fronteira sempre em expansão. Porém, também é verdade, como escreveu Paul Anderson, que «não é mera figura de linguagem dizer que na fazenda os garotos seguiam o arado com o livro na mão, fosse Shakespeare, Emerson, ou Thoreau».27 Afinal, não foi apenas uma mentalidade de fronteira que levou o Kansas a ser o primeiro estado a permitir que as mulheres votassem nas eleições para o conselho escolar, ou que o Wyoming fosse o primeiro estado a conceder igualdade total no direito ao voto. As mulheres provavelmente eram melhores leitoras do que os homens, e mesmo nos estados de fronteira o principal meio de discurso público vinha da palavra impressa. Aqueles que sabiam ler inevitavelmente tinham de tomar parte na conversa.
Também deve ser verdade, como sugeriu Perry Miller, que o fervor religioso dos americanos foi responsável por boa parte de sua energia; ou que, como contaram historiadores mais antigos, a América foi criada por uma ideia cujo hora tinha chegado. Não disputo nenhuma dessas explicações. Apenas observo que a América que elas tentam explicar era dominada por um discurso público que derivava seu formato dos produtos do prelo. Por dois séculos, a América declarou suas intenções, expressou sua ideologia, projetou suas leis, vendeu seus produtos, criou sua literatura, e dirigiu-se a suas divindades com manchinhas negras em papel branco. Ela conversou pela tipografia, e tendo-a como traço principal de seu ambiente simbólico, ascendeu à proeminência na civilização mundial.
O nome que dou a esse período durante o qual a mente americana submeteu-se à soberania do prelo é Era da Exposição. A exposição é um modo de pensamento, um modo de aprendizado, e um meio de expressão. Quase todas as características que associamos com o discurso maduro foram amplificadas pela tipografia, a qual tem o viés mais forte possível para a exposição: a capacidade sofisticada de pensar conceitualmente, dedutivamente, e sequencialmente; a alta estimativa da razão e da ordem; o horror à contradição; uma grande capacidade de distanciamento e de objetividade; e a tolerância para a resposta retardada. Perto do fim do século XIX, por motivos que anseio por explicar, a Era da Exposição começou a terminar, e os primeiros sinais de sua substituição podiam ser notados. Sua substituta seria a Era do Show Business.
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Sparks, Edwin Erle, ed. The Lincoln-Douglas Debates of 1858. Vol. I. Springfield, Ill.: Illinois State Historical Library, 1908, p. 4.
2 Sparks, p. 11.
3 Sparks, p. 87.
4 A exatidão da transcrição desses debates era continuamente questionada. Robert Hitt era o responsável pela transcrição dos debates, e foi acusado de corrigir os «erros de inglês» de Lincoln. As acusações eram feitas, é claro, pelos inimigos políticos de Lincoln, os quais, talvez, estivessem consternados pela impressão que as apresentações de Lincoln estavam causando no país. Hitt enfaticamente negava ter «adulterado» qualquer discurso de Lincoln.
5 Ronald Reagan. (N.T.)
6 Hudson, Winthrop. Religion in America. Nova York: Nova York: Charles Scribner's Sons, 1965, p. 5.
7 Sparks, p. 86.
8 Mill, John Stuart. Autobiography and Other Writings. Boston: Houghton Mifflin, 1969, p. 64.
9 Deísmo é a posição filosófica de que Deus não é conhecido pela revelação. Antes, a razão e a experiência bastam para atestar sua existência. (N.T.)
10 Hudson, p. 110.
11 Paine, Thomas. The Age of Reason. Nova York: Peter Eckler Publishing Co., 1919., p. 6.
12 Hudson, p. 132.
13 Miller, Perry. The Life of the Mind in America: From the Revolution to the Civil War. Nova York: Harcourt, Brace and World, 1965, p. 15.
14 Hudson, p. 65.
15 Hudson, p. 143.
16 Miller, p. 119.
17 Miller, p. 140.
18 Miller, pp. 140-141.
19 Também conhecido como «Hawkeye», Natty Bumppo é um personagens dos Leatherstocking Tales, de Fenimore Cooper, o qual é conhecido no Brasil por O último dos Moicanos. (N.T.)
20 Miller, p. 120.
21 Miller, p. 153.
22 Presbrey, Frank. The History and Development of Advertising. Garden City, NY: Double Day, Doran and Co., 1929, p. 244.
23 Uma casa que oferecia trabalho e comida aos mais pobres. (N.T.)
24 Presbrey, p. 126.
25 Presbrey, p. 157.
26 Presbrey, p. 235.
27 Em relação a isso, vale a pena citar uma carta, datada de 15 de janeiro de 1787, escrita por Thomas Jefferson para o Monsieur de Crève-Coeur. Na carta, Jefferson reclamava que os ingleses estavam querendo o crédito por uma invenção americana: fazer a circunferência de uma roda a partir de uma única peça de madeira. Jefferson especulava que os produtores rurais de Jersey tinham aprendido a fazer isso lendo Homero, que descrevia o processo claramente. Os ingleses devem ter copiado o procedimento dos americanos, escreveu Jefferson, «porque os nossos produtores são os únicos capazes de ler Homero».