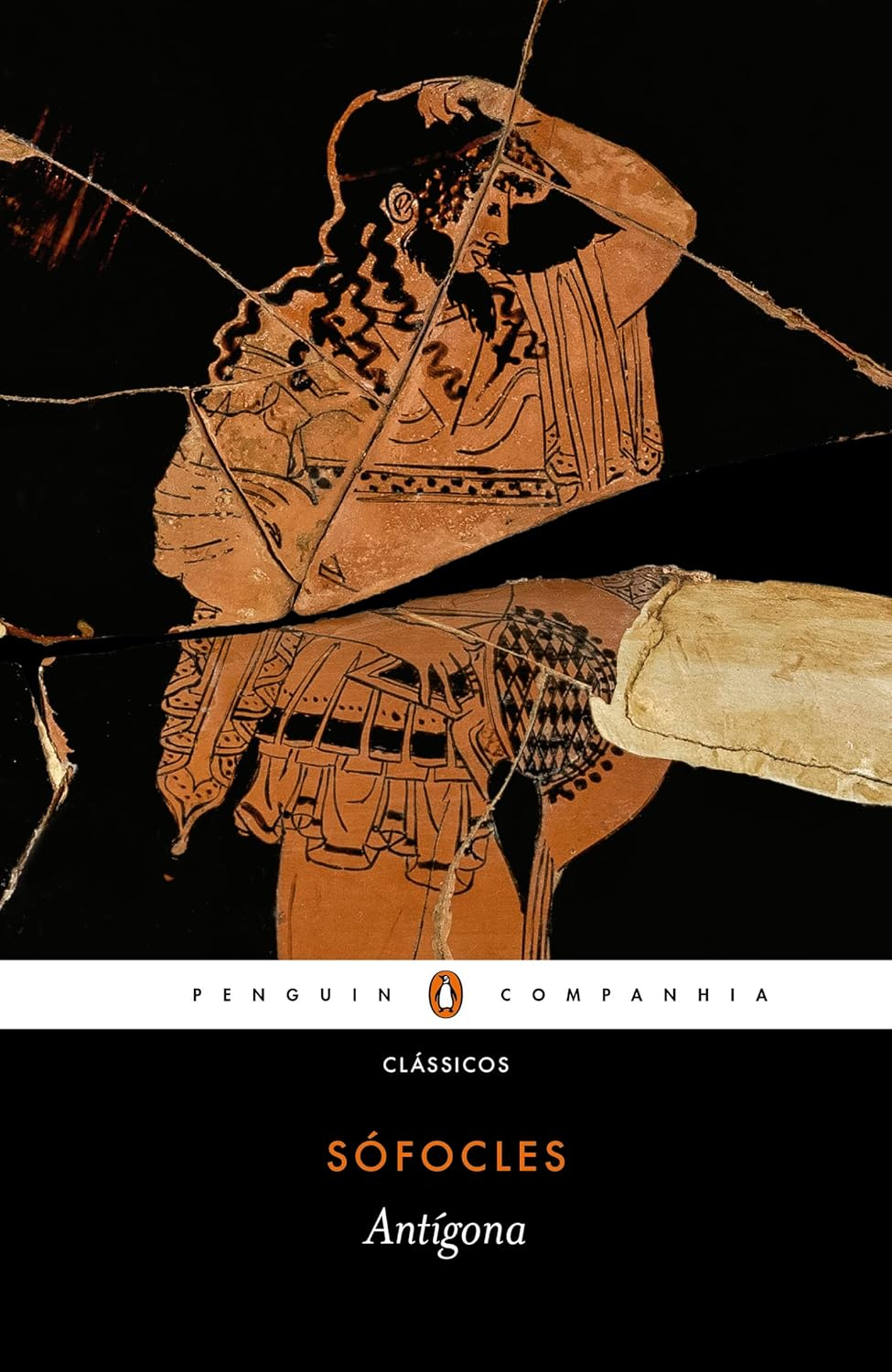135 Seminário Grandes Textos 1
Nesta newsletter, as informações do Seminário – e um texto grande sobre educação liberal
Em maio, teremos dois Seminários distintos. Um às quartas, outro aos sábados. Este email diz respeito ao de sábado.
Como sempre, há um texto após as informações. Este não é um email comercial, não é uma carta de vendas.
Informações
Quatro encontros aos sábados, 10, 17, 24, 31 de maio de 2025, das 16h às 18h, pelo Google Meet (as gravações são compartilhadas com os participantes pelo Google Drive).
O Seminário Grandes Textos deve continuar com outros textos em junho.
Preço por PIX: R$ 155, enviados para ps@pedrosette.com, R$ 135 para assinantes da newsletter. Por favor, envie o comprovante por email.
Preço por cartão: R$ 175 com pagamento pela Stripe. O assinante pagante da newsletter encontra um cupom de desconto de 14% ao fim da mensagem. Por favor, envie o comprovante por email.
E se você quiser os dois seminários do mês? O seminário das quartas terá três encontros e será sobre o pecado. Ainda enviarei a newsletter. Mas você pode se adiantar e pagar pelos dois: PIX de R$ 250 para ps@pedrosette.com, ou pagamento de R$ 290 pela Stripe (o assinante pagante pode usar o mesmo cupom).
(O envio do comprovante por email é para eu garantir que o seu email estará na lista.)
Agora, o texto da newsletter!
Vai uma crise aí?
Foi na minha releitura recente de Viktor Frankl que percebi, não sem uma boa risada, que enquanto muitos blogueiros prometem a transformação de vida que você está buscando, eu na verdade estava prometendo, um tanto sem perceber, uma crise existencial.
Para Frankl, a crise existencial tem um sentido preciso. Não se trata apenas de «sentir-se perdidaço» ou de «ficar pensando muito sem chegar a lugar nenhum». Uma crise existencial é um conflito de valores. Não um conflito mimético desses que gosto de discutir, em que você se julga totalmente distinto de outra pessoa que na verdade é muito parecida com você, mas um conflito real, difícil, porque você acredita ao mesmo tempo em valores contraditórios.
Os exemplos não faltam. O conflito mais clássico é aquele entre o amor e o dever. Você deseja um casamento, uma relação monogâmica, que tenha como base o amor. Esse amor, é claro, deve ser totalmente livre para ser verdadeiro. Ao mesmo tempo, você acredita no dever, cria expectativas, faz planos, e ainda admite sem dificuldades que, se houver filhos, alguma estabilidade é necessária. Há uns bons séculos que esse conflito de valores é resolvido ou com a justificativa de que o amor verdadeiro é constante e fiel, ou com a afirmação, um tanto cômica em sua ingenuidade, de que o amor é uma pura decisão. Por trás disso tudo, há várias questões: em séculos passados, o amor romântico nunca estava associado ao casamento, mas sim ao adultério e à aventura; foi só lá pelo século XVIII ou XIX que as pessoas decidiram combinar casamento (um dever assumido voluntariamente) e amor romântico (algo gratuito e involuntário, «mais forte do que você»).
(Esse conflito eu acho que precisa na verdade ser abandonado. Minha solução pessoal passa pelo puro gostar, pela afinidade, pelo companheirismo, pelo gozo da companhia do outro — que o próprio Frankl punha na categoria «sentido experiencial».)
Existem outros conflitos, mais modernos. No caso das mulheres, especialmente, o equilíbrio entre família e carreira. Ou o conflito entre potencialmente ganhar mais dinheiro ou realizar um trabalho para o qual você se sinta mais motivado. A ideia de que uma vida pode ser desperdiçada se não fizermos X ou Y. Até que ponto os pais devem — ou mesmo conseguem — orientar os desejos dos filhos? Esses são conflitos reais, para os quais cada indivíduo encontra a sua resposta pessoal, mais ou menos satisfatória.
A educação liberal e a crise existencial
Quando vi o surgimento dos cursos às direitas, fiquei muito surpreso porque os cursos eram vendidos e propostos dentro dessa lógica marqueteira que, num seminário passado, descobrimos estar associada à bruxaria (no sentido mais estrito dado por Jeanne Favret-Saada): a aquisição de superpoderes. Leia os clássicos e seja uma pessoa interessante. Tenha o diferencial da escrita. Faça meu curso e ganhe uma cueca vermelha para usar fora da calça e uma capa com a qual você pode sair voando.
Eu não veria tanto problema nisso que chamo de «Petrobras da cultura», de extrativismo cultural, como se a cultura fosse uma espécie de gasolina premium que vai transformar o pobre Fusquinha numa rica Mercedes, se esse projeto não estivesse aqui e ali associado à ideia de «educação liberal» — um projeto tipicamente anglo-americano e francamente iluminista. Como cereja do bolo, as pessoas que, com a melhor das intenções, compram a gasolina premium da Petrobras da cultura, ainda se julgam conservadoras e anti-iluministas, abraçando uma ideia de «alta cultura» que não é nada menos do que a visão de mundo da burguesia iluminista, ou esclarecida, do século XIX.
Ora, o propósito mesmo da educação liberal anglo-americana é dar um mapa da crise existencial moderna e algumas ferramentas para que cada um encontre as suas soluções pessoais. Os iluministas sabem — sabemos, somos todos iluministas — perfeitamente que não é fácil conciliar «liberdade, igualdade, e fraternidade». Eles sabem que o casamento por amor, ou a possibilidade de escolher o próprio esposo sem a imposição dos pais, não é uma garantia de felicidade — esse é um dos grandes temas do romance, já no século XIX! Os iluministas sabem que a Constituição Americana pode dizer que o projeto americano está em «vida, liberdade, e busca da felicidade», mas isso não garante nada. O propósito da educação liberal é ajudar a navegar os dilemas e os impasses trazidos pelos valores nos quais não podemos deixar de acreditar. Ou alguém está dispensando a liberdade, a igualdade, ou a fraternidade, para nem falar do casamento por amor?
Neste momento ouço um conservador questionando a igualdade. Mas veja. Uma bandeira conservadora, ou ao menos da direita, é a meritocracia. O que é a meritocracia? É uma ideia que faz sentido em contraposição ao privilégio. Ser meritocrático, acreditar nas «carreiras abertas ao talento» de Napoleão Bonaparte, é acreditar que os cargos devem ser ocupados pelos mais capazes, e não por uma aristocracia hereditária — aristocracia essa na qual nós nem sequer acreditamos.
Este é um propósito da educação liberal: trazer à tona nossas crenças, formulá-las, pô-las entre parênteses, questioná-las, descobrir que aquilo que parecia simples não é tão simples, que, como diz o povo, na prática a teoria é outra.

A crise existencial e a cura das neuroses
Voltando a Frankl, um ponto particularmente interessante é que ele diz que a crise existencial pode ser o começo de uma cura. Essa foi a experiência relatada por algumas das pessoas que acompanham o meu trabalho, sem que eu tivesse qualquer intenção consciente de agir como logoterapeuta. Falo de pessoas às direitas que perceberam que seus ideais direitistas não traziam felicidade, que o contato frequente com os modelos do Instagram na verdade lhes fazia muito mal, e que se sentiam travadas, «presas num mal-entendido / como um inseto num cofre», para recordar os belos versos de Bruno Tolentino (em A balada do cárcere).
Daí, até, duas coisas. A primeira é que a educação liberal não pode prometer uma transformação precisa na sua vida — não posso dizer que se você aprender a escrever ou estudar romances passará a ser a pessoa mais interessante do trabalho ou da festa. (Talvez os outros na verdade passem a gostar menos de você.) Porém, existe não exatamente a promessa, mas testemunho constante de muitas e muitas décadas de educação liberal: é um estudo que, como dizem os verdadeiros clichês, «abre a cabeça», «amplia os horizontes». O mundo fica parecendo maior e mais cheio de possibilidades. E me parece, justamente, que muitas pessoas hoje estão precisando se reconciliar com o mundo, no sentido de reconciliar-se com a sua experiência imediata, em vez de viver em rivalidade com essa experiência e com a cabeça em outro lugar, perguntando-se sobre os destinos da Sivilizassão Oksidental.
A segunda coisa é uma hipótese que venho matutando. Ainda adolescente, minha primeira ruptura intelectual veio daquilo que hoje eu denominaria a tendência da esquerda cultural a encarar as crises existenciais com frivolidade, como se meros slogans e idiossincrasias charmosas bastassem: isso vai desde o slogan «proibido proibir» (interdit d’interdire) de maio de 1968 até a ideia de que a solução para conciliar maternidade e carreira é fazer yoga de manhã para ter bastante energia (omitindo os vários funcionários domésticos que possibilitam a própria yoga matinal). Com essa releitura recente de Frankl, por outro lado, comecei a pensar que a direita, hoje, é definida pela negação da crise existencial. Ela acredita que os valores já são conhecidos, que existe uma ordem perfeita e transcendental, que a única questão está no resgate desses valores e dessa ordem — sem perceber que seus valores são modernos e que geraram crises já vastamente exploradas em textos estudados… na educação liberal.
O Seminário Grandes Textos
É com tudo isso em mente que venho propor um novo Seminário, no horário novo do sábado à tarde, dedicado ao projeto liberal. Esse Seminário terá o nome de «Grandes Textos» e deve tratar de grandes temas por meio de textos selecionados.
Primeiro tema: existe um risco em dizer a verdade?
A educação liberal está comprometida com o entendimento do presente. Se um grande tema será estudado, ele não deve ser estudado como uma curiosidade arqueológica — e nada contra as curiosidades arqueológicas da história das ideias, mas a educação liberal é voltada primariamente para o college, para o nível que, no Brasil, corresponderia à graduação. Estamos no momento de ser generalistas, não especialistas. O objetivo é ser capaz de formular bem um problema, de formular perspectivas distintas, e talvez, talvez, chegar a uma solução pessoal. O objetivo é olhar o passado para ver como ele se perpetua, ou não se perpetua, no presente. Não é estudar nuances do grego antigo, a menos que elas sejam relevantes para as questões que estão sendo discutidas. E esse tipo de educação, como creio já ter frisado em algum outro texto, faz parte de um projeto político moderno e democrático: o objetivo é formar cidadãos capazes de argumentar.
Esse ponto mesmo já conduz ao tema que pretendo propor no primeiro seminário. Inspirado pelas investigações de Michel Foucault (a esta altura não pretendo mais justificar Foucault para meu público às direitas; quem não ler O governo de si e dos outros e A coragem da verdade está perdendo, e muito), gostaria de discutir o que significa, hoje, dizer a verdade.
Isso porque a verdade nunca pareceu tão vulgarizada. Todos os dias você se depara com um vídeo ou com um texto que promete dizer «aquilo que eles (mas quem são eles?) não querem que você saiba». Temos sempre «a verdade sobre tal coisa». Uma mera resenha de produto promete, em caixa alta (CAPS LOCK no português contemporâneo), my HONEST opinion (o que, em português contemporâneo, é traduzido como minha opinião «honesta» e não «sincera»). No Seminário sobre o Ressentimento Masculino, discutimos a ideia de que o homem-ogro seria mais «autêntico» por estar mais conectado com apetites mais «básicos» (ou simplesmente grosseiros, ou totalmente normais e banais, como o gosto por churrasco mal passado), ao passo que um ridículo dândi como eu, escrevendo com suas canetas-tinteiro, seria um poço de afetação e portanto de falsidade.
Nos textos sobre política, ou mesmo sobre religião, sempre encontramos aquele destemido defensor da verdade que, enquanto afeta estar desafiando uma plateia de poderosos, na verdade se dirige tranquilamente à sua própria bolha, sem correr risco nenhum, e é, por isso mesmo, chamado de corajoso.
Por isso é que eu diria que há uma crise da verdade. Onde está ela? Até, na minha primeira Oficina de Escrita, quis discutir isso com os alunos. Como era a «cara da verdade»?
Agora, com uma proposta mais simples e muito mais barata, no formato dos Seminários (em que faço uma apresentação e convido à discussão), gostaria de retomar o tema, recorrendo a grandes textos.
Primeiro encontro
Para todos os encontros, recomendarei trechos curtos e selecionados (que enviarei) de O governo de si e dos outros e talvez de A coragem da verdade, de Michel Foucault. (O segundo livro é a continuação do primeiro.)
Kant, «O que é o esclarecimento?» (1784). Um texto fácil de achar na internet. Com este texto, gostaria que entendêssemos o quanto somos iluministas. Este é um texto fundamental para a nossa mentalidade moderna, e que põe em jogo claramente o contraste entre a verdade a que se chega por meio da investigação individual e a verdade — ou «verdade» — que deve ser enunciada coletivamente, ou pela autoridade.
Segundo encontro
Platão, Apologia de Sócrates (c. 399-387 a.C.) — outro texto fácil de achar na internet, mas vale a pena ver a tradução de Bernardo Lins Brandão para a Vide Editorial, que está muito boa e tem notas preciosas.
A Apologia de Sócrates é um texto bem curto, eletrizante, que parece inaugurar o gênero speaking truth to power. Sócrates, o fundador da filosofia, será condenado à morte pela Assembleia de Atenas. Ao defender-se, isto é, ao fazer a própria «apologia», ele está arriscando a própria vida. Em que medida esse personagem está apenas dizendo a verdade e corjaosamente aceitando as consequências disso, e em que medida está usando a filosofia, a atitude filosófica, para afirmar sua superioridade em relação aos aristocratas da Assembleia? Até que ponto Sócrates é responsável pela legião de imitadores (mencionada no texto) que gerou?
É muito fácil para nós ficar do lado de Sócrates, agora que não corremos risco nenhum e que julgamos estar do lado do «bem». Mas veja, por exemplo, que a psicoterapia pode envolver o método socrático. Você diz que está pensando na cor azul, o psicólogo pergunta por quê, ou o que essa cor significa para você, e muito rapidamente — como sempre aparece em todos os filmes e séries sobre terapia — você perde a paciência, sem entender aonde aquilo pretende chegar, e se perguntando se não está sendo apenas espezinhado pelo psicólogo…
Sócrates, porém, alegava estar obedecendo o deus. Esse argumento lembra muito o argumento do possível primeiro texto do Ocidente em que temos a impressão, com nossos ouvidos modernos, de estar diante da tradição speaking truth to power. Obviamente, esse texto é…
Terceiro encontro
Sófocles, Antígona (441 a.C.), preferencialmente nesta tradução de Lawrence Flores — as peças gregas são bem curtas. Nesta, que foi a primeira que Sófocles escreveu para a «trilogia tebana» e que seria sua conclusão, Antígona, princesa de Tebas e filha de Édipo, entra em conflito com o tio, Creonte, que diz que apenas um de seus irmãos, ambos mortos na luta pelo trono, deve ser enterrado. Antígona, porém, diz que o preceito religioso ordena o enterro, e que o governo deve submeter-se às «leis não escritas».
Se de um lado podemos ver Antígona como a whistleblower que deseja fazer algo decente, mesmo que contrarie um poder arbitrário, por que não poderíamos vê-la também como uma precursora de religiosos que desejam cumprir preceitos mesmo quando estes contrariam o poder civil? Na Europa, por exemplo, é comum que médicos cristãos se recusem a fazer abortos, o que gera não apenas a antipatia de parte do público como ainda leva ao questionamento de um sistema de saúde altamente estatizado. Como Sócrates, como Antígona, talvez esses médicos estejam arriscando alguma coisa.
Quarto encontro
Como manteremos um grupo no WhatsApp, como teremos tido esses três encontros para examinarmos os textos, o quarto encontro será dedicado aos temas trazidos à tona e à sua relação com nossa situacão contemporânea. Retomando perguntas de Foucault, hoje quem diz a verdade? Em que circunstância? Para quem? E, ao dizê-la, corre algum risco?
Adianto que, para mim, hoje não há tanto a questão de ter a liberdade para dizer a verdade, mas sim duas outras questões, que os textos nos ajudarão a entender.
A primeira é dizer a verdade com responsabilidade: isto é, ser capaz de responder pessoalmente pelo que você diz. Aqui, é claro, não estou falando do tipo de saber que pode ser obtido por um processo impessoal e que portanto poderia ser obtido por qualquer um; estou interessado naquilo que você assume como seu. Veja que uma verdade como aquela que defendeu Sócrates — «Sócrates é o mais sábio de todos os homens porque é o único que sabe que nada sabe» — não é uma verdade a que se chega de modo puramente impessoal. Somente Sócrates poderia ter defendido aquela verdade.
A segunda é não presumirmos, já que os nossos clássicos são sempre transgressores injustiçados, que a verdade será sempre transgressora ou que o discurso transgressor será sempre verdadeiro. Estar do lado da verdade é sempre rivalizar com o poder estabelecido? E ainda temos, por outro lado, o descrédito de discursos transgressores e marginais por serem… transgressores e marginais. Assim, as tentações são muitas, de um lado e e de outro. Quando temos a serenidade — não a «neutralidade» — necessária para sermos verdadeiros, para dizer a verdade, sem querer espezinhar os outros nem simplesmente mostrar que somos superiores? Quando nos é dado fazer isso sem falsidade existencial?
Eis o que espero discutir com os participantes do Seminário Grandes Textos!